
Antes de adentrarmos no tema especificamente, precisamos aclarar um ponto essencial, qual seja: os menores, assim como os absolutamente incapazes, são inimputáveis! Abordaremos, por obviedade, apenas os menores (criança e adolescente), tendo em vista que o intuito do artigo é a elucidação do ato infracional e suas consequências. A própria Constituição Federal positiva a inimputabilidade dos menores. Artigo 228, CF “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.”. No ordenamento jurídico brasileiro, encontramos a inimputabilidade no Código Penal, artigo 27 “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.”. E claro, como fundamentação legal, ainda, temos o que consta do artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.”. Logo, diante do acima descrito, percebemos que o menor não comete crime. Ocorre que, no exato momento em que essa criança ou esse adolescente comete uma conduta descrita como crime, na realidade, ele estará cometendo um ato infracional. Ato infracional é uma conduta descrita como crime, tendo como autor um menor. Exemplo: artigo 121, CP: matar alguém. Esse homicídio é cometido pelo menor, e esse ato é considerado ato infracional diante de sua condição de inimputabilidade. Exatamente como expressa o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.”. Conforme exposto no título, para que discorramos sobre o trâmite do ato infracional, precisamos, primeiro, explicar a diferença entre criança e adolescente. Essa diferença é fundamental para falarmos sobre as consequências que a Lei nº 8.069/90 impõe a cada um desses personagens. Considera-se criança, para os efeitos do ECA, a pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos; já o adolescente é a pessoa entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. É o que consta expressamente no texto do artigo 2º dessa Lei. A regra para a aplicação das medidas socioeducativas é sua aplicabilidade aos menores de dezoito anos. Todavia, como toda regra comporta uma exceção, o parágrafo único do artigo segundo nos traz a seguinte exceção: “nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.”. Isto é, tais medidas, caso impostas ao menor de dezoito anos, poderá perdurar até que o infrator complete 21 (vinte e um) anos. Esses casos são comuns na ocasião em que a ação é praticada pelo agente ainda menor, porém com seu aniversário de maioridade estando próximo. Ou seja, pelo fato de, ainda, ser inimputável e na data do cometimento da conduta ainda ostentava tal condição, esse agente responderá pelos ditames do ECA. Não importa se faltava, apenas, um único dia para atingir a sua imputabilidade, mesmo assim responderá pelo ato infracional e não pelo cometimento de um crime. Dá-se o nome, ao retrocitado, de teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Necessário, ainda no que tange aos atos infracionais, falarmos sobre a criança e sua responsabilização pela conduta infratora. Sim, a criança comete ato infracional, é vista como sujeito ativo dessa conduta. No entanto, temos o que chamamos de irresponsabilidade penal, tendo em vista que às crianças não são aplicadas as medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, aduzidas no artigo 112, ECA, são restritas aos adolescentes. O que ocorrerá, então, se a criança for autora de um ato infracional? Simples, à criança é destinada as medidas protetivas, previstas no artigo 101 desse Codex. Isso é dizer: às crianças não são destinadas as mesmas medidas destinadas aos adolescentes. Segue, agora, as medidas de proteção cabíveis às crianças: Art. 101. (…) I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV – inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII – acolhimento institucional; VIII – inclusão em programa de acolhimento familiar; IX – colocação em família substituta. Sem adentrarmos às minucias dessas medidas porque não é a pretensão do presente estudo. Tenho como objetivo abordar o procedimento utilizado pela Lei, sem aprofundamento, tão somente uma visão geral desse processamento. Importante, isso não podemos ignorar, é que o órgão competente para a aplicação de tais medidas à criança é o Conselho Tutelar. Haja vista, conforme retromencionado, que atos cometidos pela criança não são encaminhados ao Parquet, mas sim ao conselho Tutelar, reitero. Imperioso deixar claro que tais medidas devem ser aplicadas conforme a necessidade, principalmente no que diz respeito às necessidades pedagógicas. E sempre que possível, deverá ser preservado o vínculo familiar entre a criança e sua família. Por fim, caso a região não possua a instalação do Conselho Tutelar, a competência para a aplicação das medidas de proteção será da Autoridade Judiciária. Passamos pelos aspectos gerais da Lei sem, especificamente, tratarmos dos procedimentos em sede de Delegacia de Polícia, sem passarmos pelo Ministério Público e, obviamente, sem tratarmos sobre o Judiciário. Agora, suponhamos que o agente infrator – primeiramente a criança, depois trataremos do adolescente – fosse apreendido em flagrante pelo ato infracional e levado à Delegacia, qual seria o procedimento adotado? Essa criança seria encaminhada ao Conselho para que, este órgão, adotasse a modalidade de Medida de Proteção mais adequada ao caso concreto. Pronto! Tratamos o suficiente para que entendam o que ocorrerá com a criança infratora. Agora, falaremos sobre o adolescente infrator. Fase Policial. Assim que o adolescente é apreendido em situação flagrancial, o Delegado lavrará o auto de apreensão em flagrante. Neste auto serão ouvidos: condutor, testemunha e o adolescente. Até aqui, sempre igual. O que modificará será a espécie da conduta praticada. Podendo ser com ou sem emprego de violência. Auto de apreensão em flagrante será lavrado, sempre, não haverá discricionariedade, quando a ação for com emprego violência ou grave ameaça. Diferentemente do que ocorre nas hipóteses em que o menor for apreendido por crime sem violência ou grave ameaça. Nessas situações, o Delegado de Polícia terá a discricionariedade de: lavrar um auto de apreensão em flagrante ou, ainda, poderá confeccionar um boletim de ocorrência circunstanciado. Caberá a ele a decisão, pois, como a conduta é mais branda, poderá abrir mão de um procedimento complexo e utilizar um procedimento mais simples, sem oitiva de condutor e testemunha. Vide a transcrição legal do acima exposto: Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá: I – lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente; II – apreender o produto e os instrumentos da infração; III – requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. E mais, havendo no local da apreensão Delegacia especializada, esse adolescente deverá ser encaminhado a ela para o seu devido atendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente adota como procedimento responsável pela investigação o Auto de Investigação de Ato Infracional. Trata-se do mesmo procedimento do Inquérito Policial, porém tem como objetivo a apuração de casos de ato infracional. Busca-se, com o Auto de Investigação de Ato Infracional, os indícios de autoria e materialidade para que o titular da Ação (Representação, o nome da peça, tal qual a Denúncia no Processo Penal) dê o devido prosseguimento. Assunto que será oportunamente elaborado. Existe no ECA uma espécie de prisão provisória., mas, como abordado nesse estudo, sabemos que o menor não é preso, e sim apreendido. Consequentemente, havendo uma premente necessidade, poderá ocorrer a denominada internação antes da sentença. A internação antes da sentença ou internação provisória, está positivada nos artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos: Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. E mais, não poderá ultrapassar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; e o prazo determinado pela Lei é improrrogável! Sua decretação deve ser observados os seguintes critérios, quais sejam: indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti eo periculum libertatis); e a garantia da ordem pública ou garantia de sua segurança pessoal (periculum libertatis). Tão logo ocorra o término das investigações do ato infracional, a Autoridade Policial encaminhará os autos ao Ministério Público, e já sabemos, diga-se de passagem, que é o órgão titular da ação. Até aqui, passamos pelas atribuições da Polícia Judiciária. Adentraremos, agora, na segunda fase do procedimento, a fase Ministerial. Fase Ministerial. Neste momento as diligências na fase investigativa – processada no âmbito da Polícia Judiciária – já chegaram ao fim. Assim, tudo aquilo colhido será apresentado ao Ministério Público, juntamente com o adolescente infrator. Inicialmente o Ministério Público deve chamar o adolescente, na pessoa de seu representante legal, para uma oitiva. Serão ouvidos na mesma oportunidade: seus responsáveis, a vitima e a testemunha para melhor elucidação do caso. Importantíssimo destacar que o Órgão Ministerial deverá esgotar todos os meios possíveis e legais para que o adolescente infrator seja ouvido. Nesse sentido, assevera o artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. O Promotor de Justiça que receber o caso terá as seguintes possibilidades após a oitiva: ele poderá arquivar, representar ou conceder a remissão. O arquivamento está positivado nos seguintes artigos: 180, inciso I combinado com o artigo 189 e 205 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A saber: Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: I – promover o arquivamento dos autos; Art. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença: I – estar provada a inexistência do fato; II – não haver prova da existência do fato; III – não constituir o fato ato infracional; IV – não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Art. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Escolhendo, o parquet, pelo arquivamento, não poderá cumular tal instituto com a medida de proteção. Vedação devidamente tutelada pela inteligência do artigo 99. Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Promovido o arquivamento pelo Promotor de Justiça, o Magistrado pode homologar. Não homologando, o Juiz encaminhará ao Procurador Geral de Justiça para que a peça inicial acusatória (Representação – semelhante à Denúncia) seja ofertada. O PGJ poderá, também, entender que não seja caso para ofertar a Representação e ratificar o arquivamento do Promotor. Nesse último caso, o juiz estará obrigado a homologar o arquivamento. Temos, conforme aduz o ECA, a possibilidade de Representação. Efetuada a representação, o Juiz iniciará o processamento para aplicação da Medida Socioeducativa. Neste ínterim, poderá aplicar as medidas restritivas de liberdade, quais sejam, liberdade assistida ou/e internação. Art. 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. § 1º A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. § 2º A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Trata-se, a Representação, como a peça processual inicial, tal como a denúncia e queixa-crime, do Código de Processo Penal. Válido dizer, oportunamente, que a prova preconstituída é prescindível para a propositura da Representação. Por fim, vamos tratar brevemente sobre o instituto da Remissão na fase Ministerial. A Remissão encontra arrimo no artigo 180, inciso II, combinado com o artigo 126 e 127 do ECA. Art. 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá: II – conceder a remissão Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. Sua aplicação é permitida em dois momentos, quais sejam: pré processual e processual. A modalidade pré processual está descrita no artigo 126, cabeça, e tem como consequência a exclusão do processo. É anterior à Ação Socioeducativa. Já a modalidade processual, prevista no parágrafo único do artigo 126, o processo judicial já foi iniciado. A consequência da Remissão, neste momento, é a suspensão ou extinção da demanda. O ponto fulcral desta medida é a possibilidade da utilização da Remição cumulada com qualquer Medida de Proteção ou Medida Socioeducativa. A vedação de cumulação se dá, tão somente, pelo acumulo da Remissão e medida de Restrição de Liberdade (semiliberdade ou internação). O Juiz tem um papel fundamental nesta etapa. Ele poderá homologar a medida ou as medidas, se o caso, em desfavor do adolescente. Não homologando: encaminhará ao Procurador Geral de Justiça e este oferecerá a Representação; encaminhará a outro membro do MP para fazê-lo; ou, ainda, pode ratificar a homologação que, somente neste último caso, o Juiz estará obrigado a homologar. Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. § 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. § 2º Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Fase Judicial Adentrando ao último ponto do presente estudo: a fase Judicial. Subdivide-se, essa fase, em: Representação, Audiência de Apresentação, Produção de Provas, Alegações Finais, Sentença e Recursos. Vamos tratar, de forma não exaustiva, claro, de todos os pontos acima elencados. A Representação, tal como alude o artigo 41 do Código de Processo Penal quanto aos requisitos da Denúncia, deve passar por um Juízo de admissibilidade. Isso é dizer, deve suprir requisitos. Logo, o Juiz competente deve rejeitar a peça inicial acusatória se: Não estiver de acordo com os requisitos do artigo 182, parágrafo primeiro, do ECA; For oferecida contra ato infracional praticado por criança; O autor do ato infracional possuir 21 anos completos, artigo 2º, parágrafo único, combinado com o artigo 121, parágrafo 5º do ECA; Na data do fato o agente era imputável, artigo 104, parágrafo único, ECA; e A conduta manifestamente não constituir ato infracional. Ou seja, não estando configurado os fatores acima trazidos, a Representação deverá ser recebida pelo Magistrado. Tão logo receber a Exordial, deverá analisar o requerimento – desde que esteja presente – de internação provisória. Observação crucial para esta internação antes da Sentença: a transferência para o sistema adequado para o cumprimento da internação será realizada imediatamente. Ocorrendo qualquer impossibilidade, o adolescente aguardará pelo prazo de cinco dias na delegacia, prazo improrrogável, e, claro, separado dos adultos. Superado a análise da internação provisória, os pais do adolescente serão notificados em conjunto com o próprio adolescente para a audiência de apresentação, acompanhados de advogado. Após essa análise, iniciará a fase de audiências – apresentação e continuação – com o escopo de instruir o feito para decisão. Observado, portanto, os aspectos legais, os quais, não serão abordados pormenorizadamente neste estudo, talvez em outro com o intuito de aclarar o rito do ECA em audiência. Percebe-se, no presente momento, o ponto final do artigo elaborado com o escopo de apresentar, de forma singela, os aspectos do Ato Infracional praticados tanto por criança quanto por adolescente. Existem inúmeras doutrinas capazes de esgotar a matéria aqui elucidada. Eu possuo como objetivo, tão somente, apresentar tal conteúdo pouco difundido de forma objetiva.
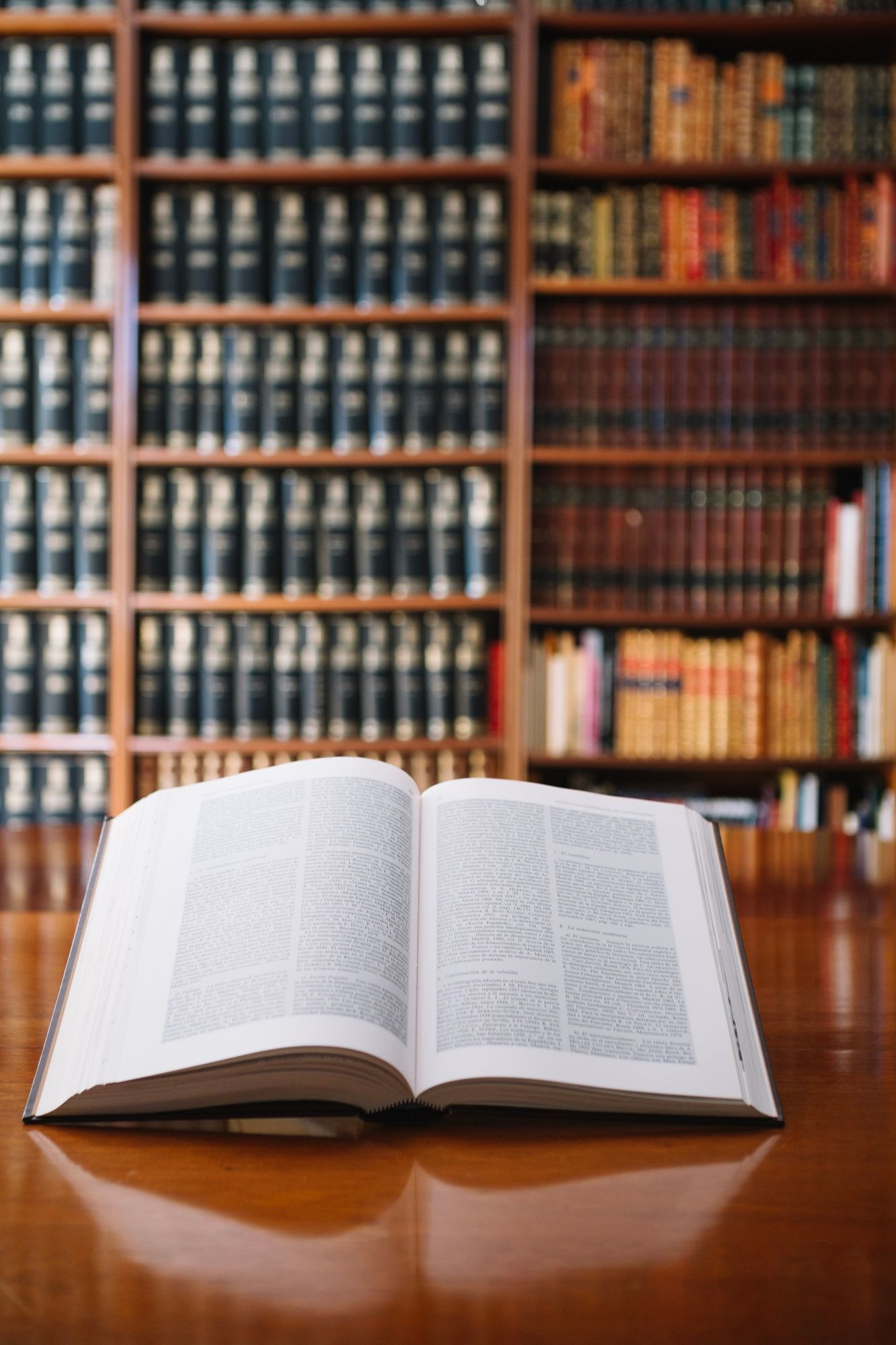
SUMÁRIO Introdução 1 OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL 1.1 Princípios 1.2 Guia de recolhimento. 1.3 Fixação da competência 1.4 Roteiro de penas 2 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 2.1 Considerações iniciais 2.2 Regimes prisionais 2.3 Regime fechado 2.4 Regime semiaberto 2.5 Regime aberto 2.6 Aplicação concomitante de reclusão e detenção 2.7 Regime inicial dos crimes hediondos e equiparados 3 PROGRESSÃO DE REGIME 3.1 Progressão nos crimes comuns antes da lei 13.964 /19 3.2 Progressão nos crimes hediondos e equiparados antes da lei 13.464/07 e antes da lei 13.964 /19 3.4 Progressão especial 3.5 Progressão após a vigência da lei 13.964 /19 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Referências Bibliográficas Introdução O presente artigo é um introito à Execução Penal, tema de fundamental importância à militância na advocacia criminal. Neste ínterim, ultrapassado estão as seguintes fases: investigação sob os aspectos do inquérito policial, bem como a verificação da culpa com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos moldes do processo de conhecimento. Ao falarmos de execução penal, temos que vislumbrar o poder estatal em executar e administrar o cumprimento dessa pena imposta lá no processo de cognição. Nesta etapa, temos a possibilidade da progressão de regime, tema fulcral da matéria e, ainda, alguns incidentes que são de fundamental relevância ao advogado criminalista, por exemplo: anistia, graça, induto e comutacao de penas . Diante da enorme relevância da matéria, contudo, pela proposta deste estudo, qual seja, de apresentar um singelo e elementar conteúdo sobre o tema, a opção foi abordar os seguintes itens: os autos da execução penal com alguns princípios tidos como de maior relevância à matéria, a guia de recolhimento, competência e o roteiro de penas; as penas privativas de liberdade positivadas no nosso ordenamento jurídico e, consequentemente, os regimes prisionais e, por derradeiro, a progressão de regime dos crimes comuns e hediondos e suas etapas (antes da vigência das Leis 13.464/07 e 13.964 /2019 (o famoso pacote anticrime). Cada tema abordado, mesmo que de forma sucinta, é crucial à atuação da defesa técnica em todos os aspectos. Assim sendo, logo abaixo, a leitura terá como ponto de partida os autos da execução penal e, logo após, os princípios. Portanto, desejamos uma boa leitura! 1 OS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL O processo de execução é um único processo, mesmo nos casos em que existem diversos apensos (tratando-se dos processos físicos). Ele é dividido, para facilitação, em diversos assuntos, tais assuntos dizem respeito aos denominados incidentes. Por exemplo, no momento em que o sentenciado pugna pela progressão de regime prisional, forma-se um apenso que terá como objetivo, exclusivamente, o trâmite dessa questão. 1.1 Princípios A execução penal é, assim como todos os demais remos do Direito, norteada por importantíssimos princípios, dentre os quais, mencionarei os mais importantes conforme a minha interpretação. Princípio da humanidade: encontra-se consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como na Convenção Americana de Direitos Humanos e, ainda, no Brasil, tal princípio está positivado na Constituição Federal , mais precisamente na dignidade da pessoa humana. Em suma, tal princípio dispõe da vedação de penas cruéis, desumanas, veda a tortura, o confinamento solitário prolongado, com cela escura ou constantemente iluminada, etc. Princípio da legalidade: também com fundamento constitucional, pois não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Logo, com a utilização do termo pena, tem-se como obrigação interpretá-lo como sanção. Além da previsão constitucional, temos a redação do artigo 45 da LEP , com a seguinte previsão: “não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar”. Princípio da individualização da pena: A CF/88 , art. 5º , estipula que a lei regulará a individualização da pena. Tal princípio, de forma singela, evidentemente, enfatiza que as autoridades responsáveis pela execução penal possuem a obrigação de enxergar o preso como verdadeiro indivíduo, sem infligir prejuízo ao Condenado (costumeiramente nos casos de exames criminológicos), incluindo, na mesma esteira, a exclusão da apreciação de um determinado caso concreto (administrativa ou judicialmente) de maneira genérica, exemplo nítido nos casos de matéria disciplinar elevando o sofrimento de forma generalizada. Princípio da presunção de inocência: expressos nos seguintes diplomas legais, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Pacto São José da Costa Rica e, até mesmo na Carta Magna de 1988. O princípio, também conhecido como estado de inocência, além de outras hipóteses, é aplicável ao Sentenciado, principalmente nas hipóteses de sindicâncias decorrentes de falta disciplinar, no ínterim da execução da pena. E, por último, o princípio da razoável duração do processo: sabidamente, sobretudo aos juristas que lidam diretamente no âmbito da execução penal, é recorrente as críticas acerca da lentidão para a apreciação dos pleitos no âmbito da execução penal. Tal princípio encontra arrimo no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas (1966), o qual assegura ao Preso o direito de julgamento em prazo razoável, ou a colocação em liberdade; também tem previsão no Pacto de São José da Costa Rica (CADH), ao estabelecer que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um Juiz para um julgamento em prazo razoável. 1.2 GUIA DE RECOLHIMENTO Com a autuação da guia de recolhimento, em conjunto com seus respectivos documentos, temos o início da execução. Após a confecção dessa guia, caso hajam demais execuções, todas serão apensadas a essa primeira execução. Essa guia é expedida pelo Juiz de piso, o qual deverá remetê-la ao Juízo da execução. Tal guia poderá ser provisória nos casos em que o sentenciado iniciar o cumprimento de pena antes de transitar em julgado sua sentença penal condenatória, ou, ainda, ser definitiva, no momento em que a sentença penal já estiver com a certidão de trânsito. Segue, para melhor compreensão, as preciosas palavras do NUCCI acerca da guia de recolhimento: Desse modo, a guia de recolhimento constitui não somente a petição inicial da execução penal, como a comunicação formal e detalhada à autoridade administrativa, responsável pela prisão do condenado, do teor da sentença (pena aplicada, regime, benefícios etc.). Deve conter todos os dados descritos nos incisos do art. 106, acompanhada das cópias das peças que instruíram o processo principal, de onde se originou a condenação. Os detalhes, em especial quanto às datas (fato, sentença, acórdão, trânsito em julgado etc.), são úteis para o cálculo da prescrição, uma das primeiras providências a ser tomada pelo juiz da execução penal. Não há sentido em se providenciar a execução de pena prescrita. (NUCCI, 2018, p. 152). 1.3 FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA Como elucidado acima, o início da execução da pena ocorre com a autuação da guia de recolhimento e compete ao juízo de piso – aquele que proferiu a sentença penal – expedir a referida guia. A competência do juízo das execuções sempre será o local no qual o Sentenciado estiver cumprindo pena e, modificará, também, sempre que se transferir de comarca. Em suma: no processo de execução a competência é deslocada sempre que o Sentenciado é transferido de comarca, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento. E mais, de nada importa se a Sentença tenha sido proferida pela Justiça Federal ou Estadual, estando o Condenado esteja cumprindo sua pena em um presídio Estadual, a competência para o processamento da execução penal será do Juiz de direito daquela comarca. Em termos práticos, determinado Sentenciado se encontra em cumprimento de pena no regime fechado na comarca de Avaré, mas atinge o lapso temporal e progride para o regime semiaberto e é transferido para a comarca de Porto Feliz e, por último, com o lapso temporal do regime aberto vai para a comarca da sua residência – por exemplo – São Bernardo do Campo. Nesse esquema, em cada comarca durante o cumprimento de pena havia um Juízo diverso competente. 1.4 ROTEIRO DE PENAS Inicialmente vamos supor a seguinte situação: determinado Sentenciado que não ostente nenhuma condenação (logo, nenhuma execução em curso) assim, após o trânsito em julgado da Sentença penal, será formado um apenso denominado de roteiro de penas. O cálculo de penas conterá a data do início do cumprimento dessa pena (frequentemente chamada por ICP), aqui, todas as frações de lapso temporal para a obtenção das progressões, do livramento, indulto , detração de penas, remissão, bem como o término de cumprimento de pena (este último, também, comumente chamado por TCP). Esse cálculo tem o seguinte sentido: demonstrar o momento em que será possível pugnar por cada instituto retromencionado, até mesmo o final da pena, o TCP. Diante das inúmeras possibilidades no processo de execução, o roteiro de penas sofrerá, consequentemente, diversas modificações. Isto é, pode ocorrer nesse trâmite processual uma unificação de pena, remição, comutação, ocorrendo, nesse sentindo, a modificação do término do cumprimento de pena. Outros apensos poderão iniciar e sempre dependerá do fato a ser pleiteado nessa fase processual. No transcorrer da pena, atinge-se o lapso temporal para o pleito da progressão de regime, logo, protocola-se tal pedido. Tão logo o cartório recebe a petição, o respectivo apenso será autuado. 2 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS Cada tipo penal tem o denominado preceito secundário, e em alguns casos tal preceito positiva a pena privativa de liberdade. Como exemplo, o tipo penal incriminador positivado no artigo 121: matar alguém; e, como pena, traz a seguinte redação: reclusão de seis a vinte anos. O matar alguém do crime de homicídio é o preceito primário e a pena – 6 a vinte anos – por sua vez, é o preceito secundário. No ordenamento jurídico pátrio temos a previsão legal de três espécies de penas privativas de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. A reclusão destina-se a aos crimes tidos como grave. A detenção tem como escopo os crimes de menor gravidade, além dos crimes culposos. A prisão simples, por fim, é destinada exclusivamente aos casos de contravenção penal. 2.2 REGIMES PRISIONAIS Imperioso destacar, mesmo sendo matéria usualmente abordada em Direito Penal, pontos relevantes para uma melhor elucidação de acerca da execução Penal. No transcorrer do processo de execução da pena, o regime prisional poderá ser modificado em pontuais ocasiões, isto é, quando ocorrer a soma das penas, unificação de penas, ou na regressão ou progressão de regime. O Brasil prevê, em seu ordenamento jurídico criminal, o sistema progressivo de pena e, nesse sistema possuem três modalidades de pena: fechado, semiaberto e o aberto. Esses regimes é a manifestação do princípio da individualização da pena, pois conforme a quantidade da pena imposta, conforme as circunstâncias judiciais de cada Sentenciado e a depender de ser reincidente, ou não, o agente poderá iniciar o cumprimento de sua pena em um dos regimes existentes. Compete ao Juiz de piso (primeiro grau) estabelecer na sentença condenatória o regime inicial de cumprimento da pena imposta. Melhor elucidando o retro apresentado, o destaque da brilhante lição de Luiz Regis Prado será de grande valia, veja: Preceitua o atual Código Penal (art. 33, caput) que a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; a pena de detenção, porém, será executada em regime semiaberto ou aberto – admitindo-se, excepcionalmente, a regressão para o regime fechado. São, portanto, três os regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade, a saber: a) regime fechado: neste a pena privativa de liberdade será executada em estabelecimento de segurança máxima ou média (art. 33, § 1 .0, a); b) regime semiaberto: admite a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 33, § l .º, b) ; c) regime aberto: o cumprimento da pena dá-se em casa de albergado ou estabelecimento adequado (art. 33, § 1º, e). Desse modo, tem-se que no regime fechado o cumprimento da pena é feito em penitenciária, construída – quando se tratar de condenados homens – em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação (arts. 87 e 90 , LEP ). “A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52 desta Lei” (art. 87 , parágrafo único , LEP ). (PRADO, 2014, p. 462). 2.3 REGIME FECHADO Os Sentenciados que forem condenados pela prática de crimes puníveis com reclusão, e a pena cominada for maior que oito anos, iniciarão o cumprimento dessa pena no regime fechado. Matéria trazida pena redação do artigo 33 , parágrafo segundo, alínea a, do Código Penal . Os crimes puníveis com detenção, em detrimento dos puníveis com reclusão, em hipótese alguma terão o início do cumprimento no regime fechado, mesmo que tenha o reconhecimento de reincidência. Contudo, temos os casos em que há a regressão de regime, daí a jurisprudência entende como cabível. O mesmo artigo acima exposto – 33 , CP – no parágrafo primeiro, alínea a, determina que o cumprimento será em estabelecimento de segurança média ou máxima. Nesse mesmo regime, logo no início, o Sentenciado faz o exame criminológico o qual terá o escopo de classificar e individualizar a pena de cada Sentenciado. Sobre o trabalho: permitido no período diurno e o isolamento no repouso noturno; o trabalho é comum dentro da unidade prisional, levando em conta a qualificação pregressa de cada indivíduo; e, por fim, há a possibilidade do trabalho externo, desde que seja realizado em serviços ou obras públicas. 2.4 REGIME SEMIABERTO Diferentemente de todo o exposto acerca do regime acima (fechado), o regime semiaberto determina que os condenados por crimes puníveis com reclusão ou detenção, não reincidentes, com pena superior a quatro e que não exceda a oito anos, iniciarão sua pena nesse regime (semiaberto), redação do artigo 33, parágrafo segundo, alínea b. Para o ingresso nesse regime, o Código Penal exige a não reincidência como requisito. Além disso, deve ser observado as circunstâncias judiciais do artigo 59 , CP . As circunstâncias judiciais deverão ser ponderadas pelo magistrado, tidas como circunstâncias que envolvem o crime nos aspectos objetivos e subjetivos, tão logo que estiver na dosimetria da pena. Nesses ditames acima elencado é que o ordenamento jurídico brasileiro – mais precisamente o Direito Penal – dá condição legal para que o Sentenciado inicie o cumprimento de sua pena no regime inicial fechado, mesmo que sua pena esteja abaixo dos oito anos. Essa possibilidade reside, desde que o agente seja reincidente e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis para essa pena. 2.5 REGIME ABERTO Por fim o regime aberto. Nesse regime, o Sentenciado que for condenado pela prática de crime punível com reclusão ou detenção simples, não reincidente e desde que a pena cominada seja igual ou inferior a quatro anos. Conteúdo exposto pela redação do artigo 33 , parágrafo segundo, alínea c do Código Penal . O cumprimento da pena no regime aberto será em casa e albergado ou em estabelecimento penal adequado à pena, CP , art. 33 , parágrafo primeiro, alínea c). Nesse regime, por obvio, exige-se do Sentenciado disciplina e responsabilidade, o qual deverá – sem vigilância estatal – trabalhar, estudar, ou exercer alguma atividade autorizada e, ainda, manter-se recolhido à noite e nos dias em que estiver de folga. Imperioso o destaque do artigo 114 da Lei de Execução Penal , pois tal artigo determina alguns critérios, quais sejam: estar, o Sentenciado, trabalhando ou que comprove a possibilidade de trabalhar tão logo que iniciar o regime e, ainda, demonstrar conforme seus antecedentes ou pelos exames realizados que terá comprometimento, disciplina e responsabilidade diante do novo regime. Aos maiores de setenta anos o Juiz poderá estabelecer condições extraordinárias (especiais) para que seja possível a concessão do regime aberto. Vejamos: permanência no local estabelecido, no ínterim do repouso e nos dias de folga; ir e voltar do trabalho nos horários fixados; não sair da comarca na qual resida sem prévia autorização judicial; e, por fim, comparecer a Juízo para informar e justificar – o famoso período de prova – sempre que solicitado. Ponto importantíssimo no que diz respeito às condições especiais no que tange ao regime do semiaberto. O Magistrado jamais poderá impor alguma prestação de serviço à comunidade, a perda de bens e valores, limitar o fim de semana, interditar temporariamente de direito. Tudo isso, caso ocorra, é provável que ocorra a denominada por excesso de execução. Corroborando com o supramencionado, temos a redação da Súmula de número 493 do Superior Tribunal de justiça: “É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP ) como condição especial ao regime aberto”. 2.6 APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO Pouco acima, abordamos a impossibilidade de aplicação do regime inicial fechado aos crimes punidos com detenção. Ocorre que é perfeitamente possível que o Sentenciado esteja respondendo processualmente por dois crimes, ou mais, concomitantemente, um punível com reclusão e outro com detenção. No caso acima, dois processos tramitando no mesmo ínterim, sobrevindo duas condenações – uma de reclusão e outra de detenção – e, ao serem executadas, será da seguinte forma: a pena mais grave será iniciada primeiramente. Isso é o que aduz o Código Penal , artigo 69 , caput, parte final: Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. 2.7 REGIME INICIAL DOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS A Lei 8.072 /1990 no que consta do artigo 2º , parágrafo primeiro, tinha, outrora, a previsão de que o cumprimento da pena, nos casos de hediondez, deveria ser integralmente no regime fechado. Contudo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo legal. Diga-se de passagem, acertadamente! Com essa decisão sobreveio a nova redação do Art. 2º , parágrafo primeiro, da Lei de Crimes Hediondos . Essa redação passa a prever que a pena dos crimes hediondos e equiparados (tráfico tortura e terrorismo) deverá ser inicialmente – não mais integralmente – fechado. E, mesmo com essa nova redação de cumprir inicialmente no fechado, o STF declarou a inconstitucionalidade do cumprimento da pena dos crimes hediondos e equiparados, obrigatoriamente, no regime fechado. Nesse diapasão, a aplicação da pena, já dosada, com a pena incialmente no fechado, deverá obrigatoriamente ser fundamentada sob pena de nulidade. Tudo isso em decorrência da ofensa ao princípio da individualização da pena. 3 progressão de regime Adentramos no último tema do presente trabalho, e nesta oportunidade abordaremos o sistema progressivo adotado no regime jurídico pátrio (sistema progressivo). Tal regime impõe alguns requisitos, por exemplo, na hipótese de determinado sentenciado não cumprir as regras do estabelecimento prisional ou, ainda, caso sobrevenha nova condenação, bem provável que tenha um regressão de regime em seu desfavor (ir do aberto ao semiaberto, ou pior, ir do semiaberto ao fechado). Logo, diante do exposto, pode dizer que a progressão é um sistema de direito subjetivo o qual necessita de certos requisitos devidamente preenchidos – requisitos, estes, legais – os quais dão a possibilidade de migrar de um regime mais gravoso para um mais benéfico. É um sistema fracionado: fechado, semiaberto e aberto e, por fim, como última etapa, temos o denominado livramento condicional. Válido mencionar, agora, que o livramento não é um regime prisional, pois como dito há pouco, temos no ordenamento jurídico pátrio apenas três regimes, reitero: fechado, semiaberto e aberto. Outro importantíssimo ponto para tecermos comentários é a impossibilidade da progressão per saltum. No Brasil existe a possibilidade jurídica da regressão por salto, o contrário – progressão – não. À luz do acima escrito, temos a seguinte possibilidade: caso algum Sentenciado esteja em pleno cumprimento do regime fechado, essa execução não poderá ter o regime semiaberto ignorado e ter como fim o cumprimento de pena nos moldes do regime aberto, ou seja, é vedado ir do regime fechado ao aberto. Obrigatoriamente, percebam, a execução deverá ser cumprida no regime sequente. E mais, o contrário é diferente: caso o Sentenciado esteja cumprindo o regime aberto e vier a praticar algum tipo de falta grave, é possível que volte diretamente ao regime fechado – exatamente isso – a regressão por salto, aqui, na regressão, é possível. Anteriormente a vedação ao instituto aqui tratado estava implicitamente contida na Lei de Execução Penal , artigo 112 , caput. O mesmo artigo, no entanto, em 2019 e com a nova redação trazida pela Lei 13.964 , foi alterado pela seguinte redação: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos… Nessa nova redação não há mais a previsão que exigia que o Sentenciado que atingisse o lapso temporal para a progressão deveria cumprir, com a devida progressão, o regime seguinte. Isso é dizer que, nos ditames da LEP , é possível que se realize o salto do regime fechado ao aberto. Trata-se de uma novatio legis in mellius, logo, deve retroagir para o benefício de todos que estejam em cumprimento de pena. Nem tudo foram flores, pois, a mesma Lei que permitiu a progressão por salto, também, recrudesceu o regramento para a progressão de regime prisional. Todavia, essa norma mais recrudescida somente será aplicável aos crimes cometidos após a vigência dessa norma: 23 de janeiro de 2019. 3.1 progressão nos crimes comuns antes da lei 13.964/19 Crimes comuns, são os crimes que não estejam listados no rol dos crimes hediondos (Lei 8.072 de 1990) e os equiparados: tráfico, terrorismo e tortura. Crimes comuns serão o cerne desse momento de estudo. A vigência do Pacote Anticrime – Lei 13.964 /2019 – modificou o requisito objetivo. Antes, a Lei de Execução Penal trazia a seguinte forma: Cumprimento de 1/6 da pena, somado ao bom comportamento (requisito subjetivo). O bom comportamento (requisito subjetivo) é o comportamento carcerário do Sentenciado, esse comportamento vem reduzido a termo no boletim informativo e no atestado de conduta carcerária. Documentos, estes, emitidos pela unidade prisional. Havia, outrossim, a possibilidade de exame criminológico e do parecer da comissão técnica de classificação ao Sentenciado que pleiteava pela progressão. Contudo, os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que, mesmo ausente da redação legal, pode ser realizado desde que seja devidamente fundamentado. Nesse sentido, temos a redação da Súmula Vinculante de número 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072 , de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 3.2 progressão nos crimes hediondos e equiparados antes da lei 13.464/07 e antes da lei 13.964/19 Agora adentraremos aos crimes hediondos, aqueles listados na redação da lei 8.072 de 1990 e os equiparados – tráfico, tortura e terrorismo – diferentemente do supramencionado. Num primeiro momento abordaremos os crimes hediondos durante a previsão na qual os condenados pela prática desses crimes deveriam cumprir pena integralmente no fechado. Isso é dizer que não haveria possibilidade de progressão. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal julgou o HC de número 82.959/SP e, por maioria, foi declarado inconstitucional a proibição da progressão de regime aos crimes descritos na lei 8.072 /90. Isso decorreu ante a afronta ao princípio da individualização da pena. A consequência dessa declaração de inconstitucionalidade foi que todos os condenados pelos crimes dessa natureza adquiriram o direito de progredir de regime prisional, conforme o aduzido no artigo 112 da Lei de Execução Penal . Para corroborar com o acima exposto, sobreveio a redação da Súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça. SÚMULA N. 471: Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464 /2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210 /1984 ( Lei de Execução Penal ) para a progressão de regime prisional. Porém, o legislador, diante da Súmula acima, previu uma nova redação legal com o aumento do lapso temporal para a progressão desses crimes. Previamente, o lapso seria de 1/6 do cumprimento de pena e, após a vigência da Lei 11.464 /07 – responsável pela nova redação legal – o lapso passou para 2/5 da pena ao condenado primário e, aos reincidentes em crimes hediondos, 3/5 de cumprimento de pena para a progressão. Essa nova redação não é válida, por respeito ao princípio da irretroatividade da Lei penal, aos casos em que a condenação sobreveio anteriormente à vigência do texto legal que recrudesceu o lapso de 1/6 para 2/5 e 3/5. Assim sendo, aos Sentenciados com sentenças transitadas em julgado anteriores à norma acima, mesmo sendo por crime hediondo, o lapso para a progressão será tão somente de 1/6. Ainda, tal qual no item 3.1, o requisito subjetivo é exigido, qual seja: bom comportamento carcerário. Assim sendo, todo o elucidado para os crimes comuns, sobre comportamento, é aplicado aos casos que envolvam os crimes hediondos e equiparados. 3.4 progressão especial Há, ainda, a chamada progressão especial, trazida pela redação da Lei de número 13 /769 de 2018. É uma lei penal mais benéfica e, consequentemente, deve ser aplicada aos crimes praticados antes de sua vigência. Nessa novatio legis, há alguns requisitos para a obtenção dessa progressão, a saber: mulheres gestantes ou que forem mãe ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência; não terem cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; não terem cometido o crime contra seu filho ou dependente; terem cumprido, ao menos, 1/8 da pena no regime anterior; serem primária e terem bom comportamento carcerário, tudo comprovado pelo estabelecimento prisional; e por fim, não estarem integradas às organizações criminosas. Também é aplicada aos crimes hediondos e equiparados essa progressão especial, tendo em vista que a redação desse dispositivo não traz nenhum óbice tampouco distinguiu os crimes comuns dos hediondos e equiparados. 3.5 progressão após a vigência da lei 13.964 /19 Agora, enfim, abordaremos o lapso temporal para a progressão de regime prisional após a vigência do pacote anticrime. Outrora era estipulado, para atingir o tempo para pleitear a progressão, o lapso contabilizado por frações. Hoje, com a nova Lei, temos no ordenamento jurídico diversas e novas frações. Como dito inicialmente, o requisito objetivo foi modificado, vejamos a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal . Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutacao de penas , respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I – não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V – não ter integrado organização criminosa. § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 , de 23 de agosto de 2006. § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Imperiosos destaques atinentes ao retro exposto, os incisos que tratam especificamente da reincidência, não de quê se olvidar que a reincidência deverá ser específica. A reincidência simples, no entanto, terá um percentual menor em detrimento da progressão para o reincidente específico. 4 Considerações Finais Como proposto, aduzimos alguns temas de forma mais superficial e, outros, mais detidamente. a execução penal, bem como suas modificações trazidas pela vigência do pacote anticrime e a progressão de regime prisional, é um tema exponencial à ciência penal, por conseguinte, foi o tema deveras estudado pelo autor porquanto é inimaginável o operador do direito (principalmente a defesa) negligenciar tal matéria e possuir, concomitantemente, um desemprenho satisfatório em seu trabalho Referências Bibliográficas MARCHI JÚNIOR, Antônio de Padova; PINTO, Felipe Martins. Execução Penal, constatações, críticas e alternativas. 1ª ed. Cutitiba, Juruá, 2008. MIRANDA, Rafael de Souza. Execução Penal, teoria e prática. 2ª ed. Bahia. Juspodivm, 2020. NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. 1ª ed. Rio de Janeiro. Gen Forense, 2018. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2014. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal teoria crítica. 4ª ed. São Paulo. Saraiva, 2018.

SUMÁRIO INTRODUÇÃO.. 1 1 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.. 2 1.1 Causas extintivas da puniblidade. 3 1.2 Efeitos da extinção da punibilidade. 5 1.3 Causas não previstas no rol do arigo 107 do Código Penal 5 1.4 Momento de ocorrência das causas extintivas da punibilidade. 6 2 PRESCRIÇÃO.. 7 2.1 Observações introdutórias. 7 2.2 Fundamentos políticos da prescrição. 8 2.3 Prescrição da pretensão punitiva. 9 2.4 Causas impeditivas da prescrição. 11 2.5 Causas interruptivas da prescrição. 12 3 PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA.. 13 3.1 Julgados de reconhecimento e aplicação da prescrição antecipada. 14 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.. 16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. 18 Introdução Nossa principal proposta, com o presente trabalho, é expor um tema positivado na parte geral do Código Penal , qual seja: extinção da punibilidade. Matéria de ordem pública e de fundamental importância não apenas ao Código Penal , mas sim, ao processo crime como um todo. Nossa principal proposta, com o presente trabalho, é expor um tema positivado na parte geral do Código Penal , qual seja: extinção da punibilidade. Matéria de ordem pública e de fundamental importância não apenas ao Código Penal , mas sim, ao processo crime como um todo. Como a extinção da punibilidade traz um enorme leque de possibilidades, existentes tanto no Código Penal quanto em leis esparsas, restringimos a temática na extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. Abordaremos, no corpo do texto, temas como: o que é extinção da punibilidade, o que vem a ser punibilidade, as causas que extinguem a punibilidade (de forma não exaustiva), escusas absolutórias com seus motivos e consequências, efeitos da extinção e suas causas que não estão previstas no Código Penal , bem como o momento de sua ocorrência. Expostos, também, de forma mais pormenorizada, a prescrição e seus respectivos prazos, seus fundamentos políticos, a prescrição antes de transitar em julgado, sua tabela para o cálculo, suas causas extintivas e suspensivas e, finalmente, a prescrição virtual aplicada, exclusivamente, no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de um artigo, portanto, não temos o escopo de exaurir o tema. Contudo, alguns itens serão expostos com um caráter mais vertical. Por fim, válido justificar que a motivação para tratarmos desse tema, foi a disparidade na interpretação do sistema de prescrição em perspectiva, sabemos que é utilizada por muitos juízes de piso, porém, já no âmbito dos Tribunais, o entendimento é diverso: eles repudiam! Ocasionando, muitas vezes, a reforma da Sentença. 1 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE O trabalho, inicialmente, antes de discorrer sobre a prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual e sua aplicabilidade nos dias atuais – tema central do trabalho – discorrerá acerca da extinção da punibilidade, de modo geral. Pois, não podemos avançar ao tema fulcral antes de apresentar o gênero e, após isso, podemos adentrar à espécie. Sempre em busca de uma melhor compreensão do leitor. E, indo nessa direção, o que seria, mesmo, extinção da punibilidade? A priori, podemos afirmar que extinção da punibilidade é a perda do direito de punir do Estado. Vale dizer, no exato momento em que uma pessoa incorre em uma infração penal, o Estado, com o seu poder de punir – jus puniendi – imporá ao infrator uma sanção penal. Esse poder do Estado está inerte, porém, com o cometimento do crime, o poder estático torna-se concreto. Eis que surge a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de o Estado – todo poderoso, com muitas exceções, claro – impor a sanção. Para corroborar com o acima exposto, de forma oportuna, traremos a obra de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato Fabbrini. Especificamente no capítulo em que trata sobre a extinção da punibilidade, punibilidade e seu conceito. A prática de um fato definido na lei como crime traz consigo a punibilidade, isto é, a aplicabilidade da pena que lhe é cominada em abstrato na norma penal. Não é a punibilidade elemento ou requisito do crime, mas sua consequência jurídica, devendo ser aplicada a sanção quando se verificar que houve o crime e a conduta do agente culpável. Com a prática do crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de impor a sanção. (MIRABETE; FABBRINI, 2010, p. 367). Com o mesmo objetivo de embasar nosso posicionamento inicial acerca da extinção da punibilidade, traremos à baila a clássica obra de Edgard Magalhães Noronha, Direito Penal, publicada em 1959 com os seguintes dizeres: A pena não é elemento do crime, e sim seu efeito ou conseqüência, donde, assisadamente, o Código previu aqui causas que extinguem a punibilidade ou o jus puniendi do Estado. Dá-se, como diz Maggiore, uma renúncia, uma abdicação, uma derrelição do direito de punir do Estado. Deve dizer-se, portanto, com acêrto, que o que cessa é a punibilidade do fato, em razão de certas contingências ou por motivos vários de conveniência ou oportunidade política”. (NORONHA, 1959, p. 481) Com todo o conteúdo acima exposto, podemos dizer que a punição é a consequência natural da realização da ação típica, antijurídica e culpável. Contudo, após a prática do fato tido como crime podem ocorrer causas que obstam a aplicação da sanção penal. Válido, ainda, mencionar que o que extingue é o ius puniendi do Estado, não a ação penal deflagrada ou na iminência de ser. A doutrina alemã fala em Wagfall des staatlichen Staatsanspruchs, quando trata da perda do direito de punir por parte do Estado. 1.1 CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBLIDADE Ainda que o agente pratique uma infração penal, é possível que ocorra uma causa extintiva de punibilidade, a qual, por sua vez, impedirá o exercício do ius puniendi do Estado. As ocasiões que possibilitam tal condição estão positivadas no artigo 107 do Código Penal . Quais sejam: Art. 107 – Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente; II – pela anistia, graça ou indulto ; III – pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV – pela prescrição, decadência ou perempção; V – pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; VII – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) VIII – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) IX – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Apenas para esclarecimento, evitando eventual confusão nos institutos penais, não podemos entender como iguais as causas extintivas de punibilidade com escusas absolutórias. Por não ser o tema central do nosso artigo, tecerei alguns comentários, singelos comentários, para ficar claro, de forma não exaustiva, que a extinção de punibilidade está prevista na parte geral do Código Penal e, no que tange as escusas absolutórias, sua previsão está contida na parte especial deste códex. E o que são escusas absolutórias? São causas que que fazem com que um determinado fato típico e antijurídico, mesmo existindo a culpabilidade do agente infrator, a este não se associe pena alguma por razões de utilidade pública. São denominadas, também, como causas de exclusão ou isenção de pena. As escusas absolutórias deixam o crime íntegro, bem como sua culpabilidade. O fato típico e antijurídico, ainda, estão presentes e o agente culpável; entretanto, isento de pena. Brilhantemente nos ensina Luiz Régis Prado, em seu Curso de Direito Penal, o conceito de escusas absolutórias e sua consequência. Segue, como referência, uma passagem acerca do tema para corroborar com nosso posicionamento acima exposto: As escusas absolutórias são causas pessoais de isenção de pena. Embora configurado o delito em todos os seus elementos constitutivos, presentes as escusas absolutórias não ocorrerá a imposição da pena abstratamente cominada. Exemplo: a imunidade penal absoluta nos delitos contra o patrimônio (art. 1 8 1 ,I e I I , CP ). Desse modo, são isentos de pena aqueles que praticam qualquer dos crimes contra o patrimônio – salvo exceção consignada no artigo 183, 1, II e III, CP – em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal, do ascendente ou do descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. (PRADO, 2014, p. 581). 1.2 EFEITOS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE As causas extintivas da punibilidade podem ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença e, nesse sentido, como regra, atinge-se o próprio direito de punir e não persistirá qualquer efeito do processo ou, até mesmo, da sentença penal condenatória. No perdão judicial e no indulto , por sua vez, podem restar alguns efeitos da condenação. Exemplos desses efeitos estão nos perdões judiciais e nos indultos. As causas extintivas podem, ainda, ocorrer depois do trânsito em julgado. Nesses casos, extingue-se tão somente o título penal da execução ou, alguns de seus efeitos, como a pena. Há casos em que são extintos todos os efeitos da sentença condenatória e o próprio delito não poderá, por óbvio, ser mais considerado. Logo, excluem todos os efeitos penais que decorrem do crime. 1.3 CAUSAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARIGO 107 DO CÓDIGO PENAL As causas extintivas da punibilidade, ordinariamente, estão previstas no rol do artigo 107 , CP . Ocorre que esse rol não tem o caráter exaustivo, existem outras elencadas na lei penal seja na parte gral ou especial. Alguns exemplos, a saber: o ressarcimento do dano no peculato culposo, que consta do artigo 312, parágrafo terceiro: Art. 312 – Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: § 3º – No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Outrossim, é causa extintiva da punibilidade a conciliação realizada nos moldes do artigo 520 do Código de Processo Penal , nos crimes contra à honra – calúnia, difamação e injúria – nos quais a competência é do juiz singular, porque, ocorrendo a reconciliação, a ação penal privada (Queixa-Crime), artigo 522 , CPP . Art. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo. Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Temos o bastante para uma boa compreensão de que o rol do artigo 107 do Código Penal não é exaustivo. Suficiente, portanto, para prosseguirmos com o texto. 1.4 MOMENTO DE OCORRÊNCIA DAS CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE A causa extintiva da punibilidade poderá ocorrer em duas ocasiões, seja antes da sentença penal condenatória ou após a sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Mas afinal, há diferença entre as duas situações? Sim, há! A relevância reside na questão da reincidência e em outros efeitos da sentença já irrecorrível. Para maior especificidade, se a causa extintiva da punibilidade ocorrer antes da sentença transitada e o agente praticar outro crime, não será considerado reincidente. Agora, na hipótese de a causa extintiva da punibilidade ocorrer após a sentença condenatória já transitada em julgado, como regra, o agente ao cometer novo crime, será considerado reincidente. Essa foi a regra, agora, como de costume, vamos às duas exceções existentes. A primeira é a abolitio criminis, que poderá acontecer antes da sentença ou depois dessa sentença já estiver transitada. Nesta última hipótese, a lei nova supressiva de incriminação rescinde a condenação que já ostenta a condição de irrecorrível. A segunda exceção está nos casos em que o agente é anistiado, a qual poderá ocorrer antes da sentença final ou após o trânsito em julgado. Após o trânsito, a anistia rescindirá, também, aquela condenação que mantinha o caráter de irrecorrível. Logo, quando o agente tiver em seu favor uma abolitio criminis ou uma anistia, após o trânsito e por algum motivo cometer novo crime, não será considerado reincidente. 2 PRESCRIÇÃO 2.1 observações introdutórias Com a ocorrência do delito nasce para o Estado o ius puniendi. Tal direito é denominado como pretensão punitiva e, por sua vez, não é permitido que tal instituto se protraia ad aeternum. Nessa esteira, o Estado estabelece critérios limitadores para o exercício do direito de punir. Tais limites, para aferir de forma proporcional, leva em consideração a gravidade da conduta delituosa e de sua pena em abstrato correspondente. Assim que o prazo chega ao fim, prazo este positivado no próprio Código Penal , o direito de punir do Estado é extinto. Logo, podemos definir este instituto – prescrição – como a perda do direito de punir do Estado, diante do escoamento do tempo e omissão no exercício de seu poder conforme o prazo fixado em lei. A prescrição constitui causa extintiva de punibilidade, prevista no artigo 107 , IV , CP . Válido mencionar que, nossa Constituição Federal declara que há alguns crimes que não são tutelados pela presente matéria, isto é, nosso ordenamento jurídico prevê crimes que são imprescritíveis. A saber: prática de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, elencados no artigo 5º, incisos XLII e XLIV. No ordenamento jurídico pátrio a prescrição é considerada como direito material, e não processual, tendo em vista que aduz o código penal . É de ordem pública, devendo ser decretada de ofício a requerimento do Ministério Público ou do interessado. Havendo prescrição, o juiz não pode combater o mérito da causa. Devendo, portanto, declarar a prescrição, de ofício, em qualquer fase da persecução penal. Agora resta-nos saber o início da contagem do prazo, pois, nesse ínterim, já temos base uma boa base acerca desse instituto e não mencionamos, claramente, qual seria seu início. Pois bem, o início da contagem do prazo prescricional começar a correr: no dia em que o crime se consumou; no caso de tentativa, do dia que cessou a atividade criminosa; nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; e, por fim, nos crimes de bigamia e nos crimes de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Esse rol tem previsão no artigo 111 do Código Penal . Trazendo um toque de brilhantismo ao corpo do presente trabalho, farei referência às palavras do Professor Edgard Magalhães Noronha para expor, de forma ímpar, o instituto da prescrição. Segue: O jus puniendi do Estado extingue-se também pela prescrição. Estada é a perda do direito de punir, pelo decurso do tempo, ou noutras palavras, o Estado, por sua inércia ou inatividade, perde o direito de punir. Não tendo exercido a pretensão punitiva, no prazo fixado em lei, desaparece o jus puniendi. (NORONHA, 1959, p. 506) 2.2 fundamentos políticos da prescrição Para legitimar a necessidade da prescrição, temos alguns fundamentos que embasam sua utilização. A seguir, abordaremos, singelamente, tais fundamentos. O decurso do tempo leva ao esquecimento do fato: assim, se o poder de punir se justifica exclusivamente pelo critério da necessidade, todo o exercício do poder repressivo será injustificado, quando não pareça necessário; O decurso do tempo leva à recuperação do criminoso: com o decurso do tempo e a inércia do Estado, a pena perde seu fundamento, esgotando-se os motivos do Estado para desencadear a punição; O Estado deve arcar com sua inércia: é inaceitável a situação de alguém que, tendo cometido um delito, fique sujeito, ad infinitum, ao império da vontade estatal punitiva. Se existem prazos processuais a serem cumpridos, a sua não observância é um ônus que não deve pesar somente contra o réu. A prestação jurisdicional tardia, salvo naquelas infrações constitucionalmente consideradas imprescritíveis, não atinge o fim da prescrição, qual seja, a realização da justiça; O decurso do tempo enfraquece o suporte probatório: podemos dizer que esse elemento é processual. O longo lapso temporal faz surgir uma dificuldade em reunir provas que possibilitem uma justa apreciação do delito. E, com a incerteza na apuração dos fatos, a defesa ficará precária; Expiação moral: com o desempregado, com a perda de seu prestígio popular, doente, deprimido pelo ocorrido e sem amigos. Muitos se afastam, mesmo sem sentença penal condenatória transitada em julgado, passará a viver recluso, convertida em prisão domiciliar voluntária e sua situação, certamente, se estenderá por muito tempo; e Expiação psicológica: o tempo modifica a constituição psicológica do culpado, pois não há mais nexo entre o fato e o agente. Em palavras diversas, com o longo decurso do tempo, o culpado já será uma outra pessoa e, no caso de sofrer uma punição, o agente que sofrerá será uma pessoa diversa daquela que havia cometido o fato há muito tempo. 2.3 prescrição da pretensão punitiva A prescrição da pretensão punitiva é regulada pela pena abstrata cominada em lei penal incriminadora, seja o delito na modalidade simples, seja na modalidade qualificada. O prazo prescricional sofre variações de acordo com o máximo da pena abstrata, aquela contida no preceito secundário do tipo penal. Válido expor que não levamos em consideração a pena de multa, independentemente de ela vir cumulada ou de forma alternada. O Código Penal expõe o instituto no artigo 109 , uma espécie de tabela facilitando a compreensão para mensurarmos o lapso temporal da prescrição. Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Máximo da pena privativa de liberdade Prazo prescricional + de 12 anos = 20 anos + de 8 a 12 anos = 16 anos + de 4 a 8 anos =12 anos + de 2 a 4 anos = 8 anos + de 1 a 2 anos = 4 anos menos de 1 anos = 3 anos Para o cálculo do prazo prescricional levamos em consideração as causas de aumento de pena, bem como as de diminuição, sendo elas obrigatórias e estejam presentes na acusação, com a inclusão da exacerbação no que concerne à forma qualificada. Todavia, são irrelevantes para o cálculo, as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, tendo em vista que não tem o poder de influenciar o limite máximo da pena em abstrato. E mais, devemos expor o artigo 118 , CP , o qual determina que as penas mais brandas prescrevem com as mais graves. Nos casos que envolvam a prescrição da pretensão punitiva esse artigo faz referência a pena cominada de caráter alternativo com a mais grave imposta pela prática no mesmo crime, isto é: reclusão ou detenção, detenção ou multa… Na mesma forma, prescreverá a pena de multa cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade no prazo estabelecido para esta última. O artigo 114, inciso II, dispõe, por sua vez, que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade nos casos em que a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Entretanto, o prazo para que seja prescrita, a pena de multa, são de 2 (dois anos, caso ela seja única pena aplicada, artigo 114, II, do mesmo códex. Quando o caso nos traz uma situação em que há concurso de crimes, o artigo 119 , CP , determina que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, de forma totalmente isolada. Tanto o concurso material, quanto o concurso formal, bem como o crime continuado, estão abrangidos por esse artigo. Súmula 497, STF. “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”. O instituto, ora tratado, dispõe, em consonância com o explícito no artigo 115, que o prazo prescricional poderá ser reduzido pela metade, todavia, para que o agente tenha tal benefício em seu favor, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. Quais sejam: ser maior de 70 (setenta) anos até a data da sentença penal condenatória. Isso é dizer, se a decisão do juiz de piso for de absolvição e, somente em sede recurso sobrevier um acórdão condenatório, o prazo a ser verificado será a data da primeira decisão condenatória, logo, do acórdão. Agora, o segundo requisito é para a conquista da redução à metade é: ser o autor do comportamento delituoso, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos de idade. 2.4 Causas impeditivas da prescrição São aquelas que suspendem o curso do prazo prescricional, que começa a contar pelo tempo restante, após cessadas as causas que que determinaram sua suspensão. Desta feita, o tempo anterior é somado ao tempo posterior à cessação da causa que determinou a suspensão do curso do prazo prescricional. O prazo de suspensão é objeto sumulado, tendo em vista o teor da súmula 415, STJ, qual seja: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. O artigo possui dois incisos. O inciso um diz que, enquanto não resolva, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento existência de crime. Para exemplificarmos, traremos o tipo penal de bigamia. Pois, se a validade do casamento anterior estiver sendo discutida no juízo cível, o curso da ação penal ficará suspenso, suspendendo-se, outrossim, o prazo prescricional, até o momento da resolução da questão prejudicial. Assim que estiver decidida, o processo crime retoma seu curso normal e tem-se por reiniciado o lapso prescricional. E nesse diapasão, o juízo criminal fica vinculado à decisão proferida pelo juízo cível. O inciso dois, do mesmo artigo, por sua vez, cuida da hipótese do agente que cumpre pena no estrangeiro, diante da impossibilidade de extradição do criminoso. 2.5 causas interruptivas da prescrição Ao contrário do que ocorre com as causas suspensivas, abordada no item acima, as quais permitem a soma do tempo anterior ao fato que deu causa à suspensão da prescrição, com o tempo posterior, as causas interruptivas têm o escopo de fazer com que o prazo, a partir delas, seja novamente reiniciado, ou seja, após cada causa interruptiva da prescrição deve ser procedida nova contagem do prazo, desprezando-se para essa finalidade, o tempo anterior ao marco interruptivo. A proposta do presente artigo não é trazer os temas de forma exaustiva, entretanto, de forma singela, trarei à tona as causas que interrompem o prazo prescricional. Lembrando que esse rol está positivado no artigo 117, divididos por 6 (seis) incisos e 2 (dois) parágrafos. Recebimento da denúncia ou queixa, inciso I: a prescrição é interrompida na data do despacho de recebimento, não importando a data do oferecimento da denúncia ou da queixa. Pronúncia, inciso II: nos processos de competência do Tribunal Popular, a pronúncia interrompe a prescrição e seu marco é a publicação em cartório. Decisão confirmatória de pronúncia, inciso III: dá-se no dia do julgamento, e não no dia da publicação do acórdão no Diário de Justiça. Sentença ou acórdão condenatório, ainda recorríveis, inciso IV: a interrupção ocorrerá com a publicação da nova decisão. Se for anulada, não interromperá (STJ, HC 30535/PR , Rel. Min. Feliz Fischer, 5ª T., DJ 09/02/2004) e, sendo sentença concessiva de perdão judicial, por ser meramente declaratória de extinção de punibilidade, não interromperá. Início ou continuação do cumprimento da pena, inciso V: a data de início ou continuação do cumprimento da pena interromperá a prescrição da pretensão executória. Pela reincidência, inciso VI: a prescrição da pretensão executória é interrompida na data do trânsito em julgado de nova sentença condenatória por um segundo crime e não na data do cometimento desse crime. § 1º – Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º – Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. 3 prescrição da pretensão punitiva virtual, antecipada ou em perspectiva Adentramos no último tema do presente trabalho, e de extrema importância. Além de todo o conteúdo exposto ao longo do artigo, a motivação da pesquisa foi, justamente, demonstrar o significado dessa prescrição criada pela doutrina – não há previsão legal – e que, mesmo sendo objeto de súmula que obsta sua aplicação, temos casos em São Paulo de seu reconhecimento. Primeiramente. a indago: o que é prescrição virtual? É uma modalidade de prescrição que detectamos no trâmite do processo. É possível esse exercício porque, dentro de uma certa razoabilidade, temos como vislumbrar a pena que será aplicada na sentença do processo crime em tramitação. Ratificando o entendimento presente, referenciamos o Professor Luiz Flávio Gomes: A prescrição da pretensão punitiva virtual (subespécie da PPP) é, como dissemos, construção doutrinária e jurisprudencial (jurisprudência da primeira instância), de acordo com a qual, tendo-se conhecimento do fato, bem como das circunstâncias que seriam levadas em conta quando o juiz fosse graduar a pena e chegando-se a uma provável condenação, tomar-se-ia por base essa pena virtualmente considerada e far-se-ia a averiguação de possível prescrição, quando então não haveria interesse em dar-se andamento em ação penal que de antemão pudesse encerrar com a extinção da punibilidade. (GOMES, Luiz Flávio. SOUSA, Áurea Maria Ferraz de. Prescrição virtual ou antecipada: súmula 438 do STJ. Disponível em http://www.lfg.com.br – 17 maio. 2010). No mesmo sentido do Professor Luiz Flávio Gomes, supracitado, para uma maior fundamentação doutrinária, traremos, também, o entendimento do Desembargador e Professor Guilherme de Sousa Nucci, com as seguintes lições: A prescrição não pode ser suspensa indefinidamente, pois isso equivaleria a tornar o delito imprescritível, o que somente ocorre, por força de preceito constitucional, com o racismo e o terrorismo. Assim, por ausência de previsão legal, tem prevalecido o entendimento de que a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo em abstrato previsto para o delito. Depois, começa a correr normalmente. (NUCCI, 2007, p. 602). Assim, conforme o supramencionado, o interessado – geralmente a Defesa – fará o cálculo da pena (sistema trifásico de Hungria). A partir do momento em que temos o respectivo resultado, há uma perspectiva de prescrição, caso o trâmite prossiga. Dessa maneira, qual a necessidade de prosseguir com o processo? Mesmo assim, com a possibilidade do reconhecimento de que a prescrição será inevitável, temos súmula para que não seja reconhecida a prescrição antecipada. Súmula 438. “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Em conformidade com a presente exposição, hão de concordar que é demasiadamente inútil o prosseguimento mesmo ciente de que, lá na frente, haverá a sentença meramente declaratória do reconhecimento da prescrição virtual. A inutilidade e a ausência de lógica é que, tocando a demanda, é um desperdício de dinheiro (erário) e desperdício de tempo, facilmente demonstrável a falta de respeito no que tange aos princípios da Administração Pública. 3.1 julgados de reconhecimento e aplicação da prescrição antecipada O item a ser tratado nessa oportunidade é a apresentação de determinados julgados, reconhecendo e aplicando, mesmo que sem fundamento legal e contra objeto de súmula, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição em perspectiva. O primeiro caso a ser apresentado é uma sentença de primeiro grau, na qual, a juíza de piso do Estado do Rio Grande do Sul declarou, em um caso de apropriação indébita, artigo 168, caput, a extinção da punibilidade. Segue, portanto, o dispositivo da sentença para compreensão: III DISPOSITIVO EX POSITIS, DETERMINO O TRANCAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL, por ausência de justa causa ou interesse de agir (punibilidade concreta), e por consequência, com fundamento no artigo 107 , inciso IV c.c art. 109 , inciso V e art. 110 do Código Penal em conjunto com o art. 61 do Código de Processo Penal DECLARO extinta a punibilidade de CAMILA APARECIDA PEREIRA NAVARRO, quanto à imputação da prática do delito capitulado no art. 168 , ‘caput’ do Código Penal aplicando a tese da prescrição pela pena em perspectiva. Processo: 0000327-81.2003.8.16.0045 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ DA COMARCA DE ARAPONGAS DA 1ª VARA CRIMINAL Sentença exarada em 02/09/2017. Nessa mesma perspectiva, tal qual acima aludida, traremos mais um caso para referência da matéria. Trata-se, agora, de uma Apelação interposta pelo Ministério Público de um processo crime que tramitava, à época, no Estado da Bahia. A interposição da Apelação, além de atacar o Mérito, arguiu, outrossim, em preliminar (como de praxe) a reforma da declaração da prescrição antecipada. Resultado, Acórdão dando provimento ao Recurso interposto. Logo, fácil perceber, uma vez mais, a utilização do instituto doutrinário, ao menos, pelos juízos de primeiro grau de jurisdição. Segue abaixo a Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA, PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RECORRIDOS DE FALTA DE CABIMENTO E DE INTEMPESTIVADE DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL E TEMPESTIVO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. SÚMULA 438 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Não há falar em intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que tanto o apelo, quanto as razões, foram apresentados dentro do prazo legal. Não se pode confundir a falta de interesse de agir com a prescrição virtual ou antecipada. Enquanto aquela representa a constatação, sem espaço para dúvida, da impossibilidade de o jus puniendi se efetivar ao final do trâmite processual, esta leva em conta a pena que provavelmente seria imposta ao réu no caso de condenação e, em consequência disso, reconhece a extinção da punibilidade. O ordenamento jurídico pátrio compreende inviável o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal. Trata-se, ademais, de instituto repudiado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça: “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. Preliminares rejeitadas. Recurso PROVIDO. (TJ-BA – APL: 00012554420018050001 BA 0001255-44.2001.8.05.0001 , Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Data de Julgamento: 11/10/2012, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Data de Publicação: 17/11/2012). 4 Considerações Finais Como proposto, aduzimos alguns temas de forma mais superficial e, outros, mais detidamente. A extinção da punibilidade, sobre tudo pela prescrição, independentemente da modalidade, é um tema exponencial à ciência penal, por conseguinte, foi o tema mais estudado porquanto é inimaginável o operador do direito (principalmente a defesa) negligenciar a matéria e possuir, concomitantemente, um desemprenho satisfatório em seu trabalho. Não exaurimos, absolutamente, tema algum, para tanto, temos inúmeras obras doitrinárias com esse escopo. Entretanto, o presente artigo, nos dá um satisfatório parâmetro no que tange à matéria estudada. Acreditamos ser de um equívoco incomensurável o entendimento majoritário dos Tribunais quanto sua repulsa ante a prescrição da pena em perspectiva. Não há, isso é lógico, motivos para a ação penal prosseguir fadada ao fracasso. Como dito: é ilógico e, pior ainda, não traduz os princípios da Administração Pública porque o gasto com a máquina judiciária é alto coisa que pode ser, facilmente, nesses casos, obviamente, ser controlada. Entendemos, perfeitamente, que a prescrição virtual não tem suporte legal e que, na mesma esteira, existe a súmula – também exposta no trabalho – negando a utilização da questão. Ocorre que, mesmo com todos esses óbices, há, ainda, o desrespeito ao erário (por conta dos gastos desnecessários) e uma aviltante consequência em desfavor do réu, pois seguirá estigmatizado – teoria do etiquetamento – em decorrência do processo crime que, ao fim, terá uma sentença declaratória da extinção da punibilidade. Indago, nesse ínterim, o seguinte: faz sentido todo esse trâmite? Entendemos que não! Por derradeiro, apresentamos essa temática com nossa visão e, como exaustivamente exposto, sem o escopo de exaurir a matéria. Contudo, trata-se de uma vasta apresentação que dá – mesmo que de forma singela – um ótimo suporte àqueles que queiram pesquisar com mais profundidade o tema. Sabemos da importância da questão à defesa técnica, logo, o viés do trabalho foi buscar o melhor aos advogados criminalistas que militam na trincheira defensiva diuturnamente. Referências Bibliográficas BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 16ª ed. São Paulo. Saraiva, 2011. GOMES, Luiz Flávio. SOUSA, Áurea Maria Ferraz de. Prescrição virtual ou antecipada: súmula 438 do STJ. Disponível em: http://www.lfg.com.br . Acesso em: 25, nov. de 2019. GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10ª ed. Rio de Janeiro. Impetus, 2016. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 36ª ed. São Paulo. Saraiva, 2015. MIRABETE, Julio Fabrini; FABBRINI, Renato Nascimento. Manual de Direito Penal. 26ª ed. São Paulo, Atlas, 2010 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 2ª ed. São Paulo. Saraiva, 1959. NUCCI, Guilherme de Sousa. Manual de Processo Penal e Execução Penal . 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2007. PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2014.

É primordial demonstrarmos, antes de iniciarmos o texto, que o direito – diga-se de passagem, supremo – de defesa, por nós advogados criminalistas destinados aos clientes, é de fundamental importância ao Estado Democrático de Direito. Visando, sobretudo, a manutenção do contraditório, ampla defesa, do direito à imagem, da intimidade e, obviamente, do princípio basilar da dignidade da pessoa humana. Diante de sua tamanha importância e pelo desrespeito corriqueiro necessário foi o nascimento de um importantíssimo instituto para obstar todas as violações a nós destinadas. O instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Tem como fulcral escopo o esclarecimento de que em nada se confunde a figura do profissional – advogado constituído – com a pessoa do ora indiciado, réu ou sentenciado, ou seja, pouco importa em qual momento processual esteja o causídico exercendo suas prerrogativas. Poucos têm a noção da real necessidade e do indispensável papel do advogado criminalista no que tange à defesa técnica. O advogado não defende o crime, definitivamente não é essa a nossa atribuição. Nós defendemos a pessoa, defendemos o seu direito constitucional à defesa técnica, seu direito de ser processado, julgado e condenado nos termos da lei. Essa sim, caro leitor, é a nossa atribuição, para assegurarmos o devido processo legal. Referenciando uma brilhante advogada criminalista e atual Presidente do IBCCRIM, qual seja: Eleonora Nacif (inclusive, já foi minha Professora de Recursos – Código de Processo Penal – na Escola Superior de Advocacia: ESA-SP): “em suma, temos de demonstrar à população que nós, advogados, defendemos o direito a ter direitos”. Você, leitor, deve estar se perguntando sobre o título: a espetacularização do processo penal pela mídia, certamente. Pois bem, darei alguns exemplos para que fiquemos sem quaisquer dúvidas nesse sentido. A revista época em determinada edição publicou uma edição que a capa era um retrato do goleiro Bruno, e nela víamos estampada uma foto do goleiro com um título enorme dizendo: indefensável. Agora questiono-os: o repórter responsável pela capa estuda processo penal? Será que ele sabe quais são as defesas possíveis em um caso de competência do Júri? Acredito que ele não detinha tais conhecimentos, ao menos à época. Resumidamente, pois não é o tema do texto, citarei algumas teses defensivas que diferem do pedido de absolvição: podemos demonstrar que o agente agiu com sua vontade viciada pela inexigibilidade de conduta diversa, participação de menor importância, desclassificação, podemos retirar as qualificadoras para uma substancial diminuição de pena, coação moral irresistível, legítima defesa, etc. São, como leram, inúmeras. Entenderam o grande desserviço prestado pela revista com sua visão pequena de que temos como objetivo demonstrar se o agente é culpado ou inocente? Tudo é defensável, mesmo que a defesa não ataque a absolvição. Vejam, há tempos a presente crítica atacando esse cenário midiático de total desinformação técnica em desfavor do réu é realizada, sobretudo quanto ao réu demonizado – quase que um alguém sem diretos – durante o trâmite do processo do tribunal do júri. Márcio Thomaz Bastos, meados do ano de 1.999, teceu a mesma crítica. Percebam: àquela época, não tínhamos ao nosso alcance toda a tecnologia hoje existente. Imagine, se naquele ano a mídia sensacionalista já era criticada pelo seu maléfico trabalho prestado, reflitam agora o tamanho do estrago que essa mesma impressa pode causar hoje com a era tecnológica. Existe uma grande curiosidade, por parte de nós humanos e curiosos que somos, acerca da tragédia do dia a dia, sobretudo quando envolve morte. O que ocorre é que os grandes veículos de comunicação notaram esse fascínio pelo sangue abrindo, consequentemente, grande parte de seus programas para esse tipo de atração. Eles precisam de lucro, são entidades empresarias que buscam ativos, e a rentabilidade desses veículos tem como origem a audiência, logo, como é de ciência nossa curiosidade sobre essa temática, serão amplamente e irresponsavelmente trabalhados. E para que: para lucrarem. O Professor Doutor Sérgio Salomão Shecaira, Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo (USP), em um de seus inúmeros artigos acadêmicos publicados, nos elucida quanto o porquê dessa curiosidade atinente aos réus do Tribunal do Júri com o que segue: “um dos fatores que reforça esse fascínio das pessoas em relação à criminalidade é justamente porque quando nos diferenciamos do criminoso que não se deixa dúvidas quanto a condição de pessoas honestas que cada um atribui a si próprio”. Minha interpretação desse trecho é a seguinte: quando atribuímos a outrem más qualidades, quando os tachamos de criminosos, de monstros, muitas vezes não sabendo, sequer, o que realmente ocorreu, estamos nos diferenciando dessas pessoas. E por quê? Porque assim, podemos nos rotular como pessoas puras, diferentemente daqueles. Nos colocamos como pessoas sujeito de direitos e eles, infratores, como coisas, uma espécie que não detém direitos. Agora, antes de que me apontem como alguém que não respeita a informação, informação ofertada pelos veículos de comunicação, preciso afirmar: nada disso! É evidente que na sociedade atual, sociedade da informação, precisamos nos atualizar, todo santo dia. A informação é essencial. Todavia, o texto ataca a má informação, o excesso, tendo em vista que não podemos ser irresponsáveis a ponto de, por dinheiro, denegrir a imagem constitucionalmente tutelada de terceiros, mesmo que esse terceiro esteja no banco dos réus ou esteja indiciado pela autoridade policial. Todos, absolutamente todos, têm direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Sobre o excesso alegado no parágrafo acima, explicarei agora o porquê. Simples, é diariamente divulgado, amplamente divulgado, pessoas e mais pessoas, casos e mais casos, de condenação, de indiciamento, de prisão flagrancial, etc. Agora, dito isso, faço a seguinte indagação: a mídia, todas elas, dá o mesmo espaço à defesa? Elas apontam com a mesma publicidade as pessoas que são inocentadas com sentença transitada em julgado? Elas dão, ao menos, a oportunidade de a defesa responder aos ataques sofridos? Preciso responder? Não, claro que não. Isso não vende, não traz lucro; falar bem deles não é rentável. Interessantíssimo que cada veículo tem sua “verdade” a ser publicada, cada emissora, cada jornal, cada site, traz sua identidade ao fato desvirtuando a verdade. A função social desses veículos é totalmente prejudicada, diariamente prejudica a defesa – como uma espécie de quarto poder – quanto ao trâmite processual. Resumindo, cada qual destes veículos criam a sua realidade. Nesse escopo temos, portanto, como fora exposto retro, a violação de alguns princípios, quais sejam: o devido processo legal, a ampla defesa, a plenitude de defesa nos casos do Tribunal do Júri (superior a própria ampla defesa), a presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, bem como as garantias constitucionais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. A informação pelos meios de comunicação é quesito inequívoco de um Estado democrático de defesa, requisito basilar que, de tamanha importância, quando ocorre um Governo autoritário ou ditatorial, é a primeira ferramenta a ser removida. Ou seja, é fundamental a liberdade de imprensa, isso é inegável, não há qualquer dúvida nesse sentido. Tiremos como exemplo os vinte e um anos que nossa nação sofreu com a ditadura militar. Todos os veículos de comunicação à época sofreram, e muito, nesse ínterim. Com a redemocratização trazida com a carta política dos anos de 1.988, em seu artigo quinto, inciso IV a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. E na mesma esteira, ainda no artigo quinto, inc. IX: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente censura ou licença. Continuo, inciso XIV do mesmo dispositivo: e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. A lei de número 13.188 de 11 de novembro de 2015 nos traz, para o auxílio nesse combate aos atos irresponsáveis dos meios de comunicação, nesses casos, que a retificação do mal causado deverá ter o mesmo espaço ou duração da violação contra aquela pessoa que tenha sido atingida pela propagação da informação maléfica. Exemplificando: fulano que for aviltado em determinado telejornal, o mesmo tempo utilizado para a agressão contra este terá de ser destinado em favor de sua defesa; cicrano que for sua honra atacada em determinado jornal impresso, o mesmo espaço utilizado nesse ataque deverá ser empregado no direito à resposta defensiva. Como funcionaria: a pessoa que sofra a lesão encaminhará um comunicado via aviso de recebimento pedindo seu direito defensivo com o mesmo espaço ou tempo para que o exerça com paridade de armas. Nesse sentido, se em vinte e quatro horas seu pedido não seja cumprido extrajudicialmente, o pedido poderá ser destinado ao juiz que proferirá sua decisão em até dez dias, sob pena de multa. Não podemos, conforme o exposto, alegar que seja caso de censura. Jamais podemos incorrer nesse erro, pois temos como fundamento o artigo quinto, inc. V da Constituição Federal que prevê o direito de defesa nos casos de lesão. Logo, trata-se de um direito fundamental no combate ao desrespeito à honra, à imagem, etc. Não podemos confundir a violência exercida pelos meios de comunicação com suporte no direito constitucional à liberdade de imprensa. Uma coisa é exercer o direito de exercer e propagar informações úteis e verdadeiras, outra coisa totalmente diversa é utilizar da força de propagação para ceifar a honra de outrem. Preciso demonstrar, ratificando todo o exposto no presente texto, que mesmo nos casos em que o agente violado tenha direito à resposta, e que, ainda, seja indenizado, provavelmente o dano causado possa ser, facilmente, irreparável. Independentemente da quantia pecuniária destinada à indenização, o mau causado venha a se ternar irreparável diante da ampla lesão causada. Como exemplo, aos que não saibam, temos o caso da Escola Base que, injustamente e de forma devastadora, destruiu a imagem dos acusados de forma irremediável. (link do caso no site do canal ciências criminais: https://canalcienciascriminais.com.br/caso-escola-base/) . Notem: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, isto é, a presunção de inocência é direito de todos, acreditem, todos nós possuímos esse direito. Será que tal garantia é respeitada pela mídia? Vamos aos exemplos. Adoro exemplos! Exemplo primeiro: capa da revista Veja, sobre o caso dos Nardoni, estampava um grande: “Foram eles”. Entretanto, essa afirmação foi exposta publicamente em 2008. Repito, eles alegaram à época que tinha sido o casal. Ocorre que o casal Nardoni foi julgado e condenado no ano de 2010. Em outras palavras, a sentença proferida pela justiça popular midiática, sem direito recursal, foi publicada anos antes da jurisdição competente proferir sua condenação. Exemplo segundo: caso Carla Cepollina ré em um processo de competência do Tribunal do Júri acusada de ter matado o coronel Ubiratan Guimarães, em 2006 (responsável pelo massacre do Carandiru). O caso foi emblemático e amplamente divulgado pela mídia, obviamente, pois como é matéria que venderia facilmente o que traria, como consequência, lucro às empresas de comunicação envolvidas. Ocorre que, antes de ser absolvida, trarei como exemplo os veículos impressos, a regra era ser assunto de capa com grandes e chamativas estampas. Entretanto, no dia seguinte à absolvição, a folha de São Paulo trouxe uma pequena nota de rodapé. Facilmente compreensível: absolvição não vende! Empresas visam lucro, resumidamente é isso: o rentável é veiculado e o não rentável é assunto secundário ou, ainda, descartável. Uma pergunta para reflexão acerca desse exemplo: caso ela, naquela oportunidade, fosse condenada, acham que o espaço do jornal (Folha de São Paulo) traria a notícia no rodapé da capa? Após os exemplos trazidos à tona no parágrafo anterior, trarei à baila, agora, o artigo 11 (onze) da portaria 18/98 da Delegacia Geral de Polícia. Para a surpresa dos caros leitores e, na mesma oportunidade, hão de perceber que na prática dificilmente ocorre o que a portaria positiva. Segue abaixo: “Artigo 11: as autoridades policiais e demais servidores zelarão pela preservação dos direitos à imagem, ao nome, à privacidade e à intimidade das pessoas submetidas à investigação policial, detidas em razão da prática de infração penal ou à sua disposição na condição de vítimas, em especial enquanto se encontrarem no recinto de repartições policiais, a fim de que a elas e a seus familiares não sejam causados prejuízos irreparáveis, decorrentes da exposição de imagem ou de divulgação liminar de circunstância objeto de apuração. Parágrafo único: as pessoas referidas nesse artigo, após orientadas sobre seus direitos constitucionais, somente serão fotografadas, entrevistadas ou terão suas imagens por qualquer meio registradas, se expressamente o consentirem mediante manifestação explícita de vontade, por escrito ou por termo devidamente assinado, observando-se ainda as correlatas normas editadas pelo Juízos Corregedores da Polícia Judiciária das Comarcas”. Isto é, os presos somente poderão ser fotografados ou filmados, entrevistados e expostos caso permitam de forma expressa e inequívoca. Será que o Datena, bem como o Luiz Bacci têm autorização ao filmarem e exporem ao público todos os presos suspeitos durante seus programas? Todas as mídias estão inclusas nessa indagação, utilizei-me, apenas, desses exemplos por entender os mais correlatos à indagação por utilizarem, diuturnamente, de prisões semelhantes aos filmes hollywoodianos para atraírem seu público, segurando-os para obterem audiência e, consequentemente, lucrando com o espetáculo. Trago-lhes outro exemplo, para concluirmos a presente crítica, do espetáculo em que a mídia faz em busca do dinheiro com um viés irresponsável, violento, irreparável e irrecorrível. O exemplo trata do caso sobre o homicídio cometido por Elize Matsunaga vitimando seu marido Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki. Para tanto, citarei, novamente, a Presidente do IBCCRIM Eleonora Nacif em um texto muito bem escrito e publicado pela Escola Superior de Advocacia: “Elize Araújo Matsunaga é acusada de ter praticado homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel) contra seu marido, o empresário Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki. Desde o dia 19 de maio de 2012, data em que ocorreram os fatos, as mídias em geral (jornais, revistas, televisão, rádio etc) têm se ocupado bastante em veicular notícias sobre este triste episódio. A edição de 13/06/12 da revista Veja, por exemplo, estampou uma foto na capa do belo rosto de Elize, lançando um legítimo “olhar 43”. A manchete que segue logo abaixo do “olhar” é a seguinte: “CASO YOKI – MULHER FATAL – A história de Elize Matsunaga, assassina confessa, que esquartejou o marido milionário enquanto a filha dormia”. Interessante observar os elementos de impacto trazidos na capa da revista: 1) mulher fatal; 2) assassina confessa e 3) marido milionário. Em outras palavras, mulher bonita, crime e dinheiro. Para completar o mórbido menu, Elize era ex-prostituta, e conheceu Marcos através do site M. Class, no qual garotas de programa oferecem seus serviços. Notícias sobre o “caso Elize” e assemelhados causam grande interesse e curiosidade na população em geral. A imprensa percebe este interesse e acaba por destinar grande parte do tempo dos programas televisivos e das páginas dos jornais para veicular notícias sobre crimes. “Mulher bonita, crime e dinheiro” definitivamente, vende.” Com muita elegância e técnica Eleonora Nacif, novamente, contribuiu conosco para entendermos o papel desempenhado pela mídia no processo penal, transformando-o em uma dramaturgia, de forma irresponsável, impossibilitando muitas vezes – quase sempre – o exercício do contraditório, da ampla defesa e dos possíveis recursos ante as suas, irreparáveis, condenações. Encerramos, portanto, o texto demasiadamente crítico atinente às irresponsabilidades (reitero) cometidas pelos veículos de comunicação. Oportunamente reafirmo: minha crítica não é menosprezando ou diminuindo o fundamental papel da mídia. Muito pelo contrário, nos dias atuais precisamos de muita informação, isso é inquestionável! Todavia, precisamos nos ater ao ordenamento jurídico pátrio, sobretudo no que diz respeito aos preceitos constitucionais.

A Lei 11.343 / 2006 aduz a temática do tráfico de drogas, de maneira inovadora, prevê, agora, uma causa de diminuição de pena. Tal medida está positivada em seu artigo 33, parágrafo 4º. O parágrafo determina que, nesses casos, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, exigindo, para tanto, que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Essa medida surge como uma ajuda ao pequeno traficante, aquele que ainda não está totalmente imerso na traficância, visando, portanto, o combate ao comércio ilícito de drogas. Acreditamos, pois, que o maior objetivo dessa benesse seja a celeridade de sua ressocialização. Tal matéria é comumente denominada de Tráfico Privilegiado, entretanto, há uma ausência técnica. Nossa afirmativa é facilmente compreendia, tendo em vista que, em direito penal o privilégio traz consigo uma pena em abstrato mínima e máxima menor. O que ocorre, aqui, é a possibilidade de diminuição de pena – em fração – que transita entre um sexto a dois terços, apenas. Um julgado recente do Supremo Tribunal Federal, em plenário, concluiu que o crime praticado nessa modalidade (tráfico privilegiado) não tem natureza hedionda. Nesse sentido, não há aquele recrudescimento que o rol dos crimes hediondos traz a baila, como exemplo: o lapso temporal para progressão de regime, bem como o livramento condicional com frações maiores em comparado com as frações correspondentes dos crimes comuns. Válido expor que o Supremo entende ser equiparados aos crimes hediondos, apenas, o artigo 33 “caput” e seu parágrafo primeiro da Lei de Drogas, 11.343 /2006. Esse tratamento distinto tem como fundamento um menor juízo de reprovação sendo, portanto, desarrazoado caracteriza-lo como hediondo. E mais, se a associação ao tráfico não é equiparada como tal, porque tratar o traficante não habitual de forma mais severa? Não faz sentido. Diante do supramencionado, o STF cancelou a súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça que afirmava que a causa de diminuição de pena não afasta a hediondez do crime de tráfico. Como já mencionado, retro, hediondo fica a cargo do 33 “caput” e parágrafo 1º. Ocorre que, para que ao agente seja aplicada essa minorante, são necessários o preenchimento de alguns requisitos os quais serão abaixo elencados. São quatro os requisitos, cumulativos, necessários, quais sejam: o primeiro requisito é a primariedade do agente; bons antecedentes, como o segundo critério, lembrando que, consoante a súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, pois fere o princípio da presunção de inocência; não dedicação a atividade criminosa como o terceiro requisito que será caracterizada com a demonstração de que o agente não se dedique às atividades criminosas, tão somente um fato isolado em sua vida. Isto é, não deve estar vinculado à associação ao tráfico, nem mesmo possuir grandes quantidade e variedade de droga, pois seria um indicio robusto de que seria um caso de dedicação ao crime, pois foge à normalidade um pequeno traficante possuir toda essa quantidade e variedade do produto; e, por último não integrar organização criminosa o qual se refere a associação organizada de quatro ou mais pessoas, de forma ordenada com tais tarefas dividida. As penas desses delitos cometidos pelos agentes, devem tem previsão de pena máxima superior a quatro anos, pouco importando se a associação, aqui tratada, esteja voltada para a prática de crimes de tráfico ou de infrações penais de natureza diversa. Superado a ideia da minorante, bem como seus requisitos, agora trataremos do ônus da prova no que tange a presença ou, também, ausência dos requisitos é de se afirmar que, conforme o princípio da presunção de inocência, quem deverá comprovar o porquê da não possibilidade de aplicação do caso de diminuição de pena será o órgão ministerial. Como eles (Promotores) fariam isso, simples: demonstrando a não primariedade, a ausência dos bons antecedentes, demonstrar a dedicação às atividades criminosas e que não integra organização criminosa; sempre será do Ministério Público o ônus probatório. Até porque, ao contrário disso, teríamos um caso de afronta ao princípio da inocência tendo em vista a impossibilidade de demonstração de prova negativa, conhecida também como diabólica. Essencial sabermos que o Magistrado utiliza de certos critérios para que possa quantificar o quanto diminuirá dentro dos limites permitidos, tais critérios estão positivados no artigo 42 da lei aqui estudada. Quais são os critérios? São os seguintes: natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente e, claro, tudo devidamente fundamentado. E, por derradeiro, nos autos do HC 97.256 , o Supremo Tribunal Federal, em seu plenário, declarou a inconstitucionalidade da restrição da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, mesmo nos casos em que a pena cominada ficasse abaixo dos 4 anos com o reconhecimento dessa minorante. Hoje é, reitero, inconstitucional! A seguinte expressão: “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” foi excluída por intermédio da Resolução número 5 de 2012. Em outras palavras, é possível a conversão da PPL em PRD. O presente estudo, no qual abordamos o tráfico com causa de diminuição de pena, equivocadamente chamado de tráfico privilegiado, tem o escopo de elucidar os benefícios por encaixarmos o fato nesse dispositivo em favor do indiciado, principalmente para afastarmos o recrudescimento inerente aos crimes hediondos. Lembrando que basta, para tanto, o preenchimento de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa e que cabe ao “parquet” o ônus probatório.

Neste estudo abordaremos o crime num aspecto geral e teceremos comentários de algumas matérias que o cercam. Reitero, desde já, assim como feito nos estudos anteriores, que não possuímos o escopo de esgotar a tema, até porque temos inúmeras doutrinas maravilhosas, inclusive, para tal objetivo. Eu, advogado criminalista e, também, um eterno estudante pretendo, tão somente, apresentar aos leitores a matéria criminal dosando a técnica forense com um português de fácil compreensão. Então, sem delongas…. Vamos ao tema: crime e seus componentes. O que é crime? Crime é, conforme nos ensina a teoria tripartite, um fato típico, antijurídico e culpável. Em cada uma dessas fases há suas particularidades, as quais, agora, veremos abaixo. Fato Típico. No fato típico temos a conduta do agente que gerará um resultado. Esse resultado, necessita de um nexo de causalidade com a ação, e o resultado, por sua vez, deverá, também, estar positivado na Lei como uma conduta típica. Válido dizer que tal conduta deverá abordar tanto a tipicidade formal (tipo penal positivado na lei), bem como a tipicidade material (prejuízo ao bem jurídico tutelado, não apenas no tocante formal – lei – mas também terá de atingir o bem jurídico); exemplificando: o princípio da insignificância faz com que o bem jurídico não seja atingido. Visto o fato típico, abordaremos a ilicitude. Tida como o segundo substrato do crime, a antijuridicidade, é um juízo de valor negativo ou desvalor que qualifica o fato como contrário ao direito. E, assim como a tipicidade, a antijuridicidade diz respeito ao comportamento humano. No entanto, haverá ocasião em que uma determinada ação típica e antijurídica não constituirá crime. Por quê? Porque a legítima defesa (artigo 25 , CP ); o estado de necessidade (artigo 24 , CP ); o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito (ambos positivados no artigo 23 , inciso III , CP ) são causas que excluem a tipicidade. Matéria já estudada em outro artigo, escrito por mim, nessa página. Visto os dois primeiros substratos que compõe o crime, em sua teoria tripartida, falaremos agora do elemento culpável. Essencial, tal qual os dois anteriores, para a consumação da infração. Culpabilidade, terceiro substrato do crime. Nos casos em que a ação do agente provoque um resultado com nexo causal, preenchendo as tipicidades: formal e material, bem como não estar amparado pelas excludentes de ilicitude terá de ser avaliado, ainda, se sua conduta é culpável, isto é, se o agente é imputável (não ser isento de pena por ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ser maior de dezoito anos e não estar completamente embriagado por caso fortuito ou força maior impedindo-o de entender o caráter ilícito de sua ação); se o agente possuía, no momento do cometimento do fato, potencial consciência da ilicitude (erro sobre a ilicitude do fato de forma inevitável); e, por fim, se era exigível conduta diversa (não haver, no ato, coação moral irresistível ou uma ordem manifestamente ilegal). Para corroborar com o acima aduzido, suscintamente, vos digo: o agente preenchendo os três substratos do crime, o crime estará consumado! Visto os requisitos do crime, assim que são consumados passando pelo chamado ITER CRIMINIS: cogitação, preparação, execução e consumação – exaurimento não integra – temos de tratar outros fatores importantíssimos. Aos crimes são aplicadas as penas de reclusão ou detenção, isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Além disso, mesmo que o crime seja cometido no estrangeiro, é possível que a lei brasileira seja aplicada tendo em vista o artigo 7º do Código Penal , o qual preceitua a extraterritorialidade. Cabe, igualmente, ao delito, a tentativa que é uma atenuante genérica trazida pelo disposto no artigo 14 , II , CP . Nosso ordenamento prevê crimes dolosos, culposos ou, ainda, preterdolosos (arts. 18 e 19 do mesmo códex). Sua pena, sendo privativa de liberdade, teoricamente, pois há como o agente permanecer por mais tempo, não pode ser superior a trinta anos. Veja o teor do artigo 75 , caput, CP : “o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”. Há alguns benefícios trazidos aos sentenciados no CP , como, por exemplo, o SURSIS, nos casos em que a pena não seja ultrapasse dois anos (artigo 77). O SURSIS obriga que o sentenciado permanece em período de provas variando entre dois a quatro anos, como regra. Excepcionalmente, de quatro a seis anos, denominados de SURSIS HUMANITÁRIO. Neste último, a pena não poderá exceder quatro anos. Em tempo, para findarmos nossa singela introdução ao crime menciono, tempestivamente, a título de apresentação, a medida de segurança. Contida no artigo 77 do CP , o qual positiva que ao agente inimputável o juiz determinará sua internação na hipótese em que esse agente seja condenado pela prática de fato tido como crime. Mas, sendo o crime punido com detenção, poderá o juiz submeter ao agente o tratamento ambulatorial. Neste presente e último parágrafo, dou por encerrado nosso estudo. Fiz um conglomerado de matérias relacionadas ao crime, as quais, particularmente, considero significativas ao operador do direito, sobretudo àquele que lida, diuturnamente, com o direito penal.

Na presente oportunidade estudaremos a Competência na Justiça Criminal. Tema de suma importância para nós, operadores do direito, o qual nos possibilita o exercício da profissão em sua forma mais plena. Como funcionam as regras de fixação de competência? Regra básica: ir sempre da justiça mais especializada para a comum. Vamos ao passo a passo para uma melhor interpretação: I) JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; II) JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL; III) JUSTIÇA ELEITORAL; IV) JUSTIÇA COMUM FEDERAL; e V) JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Sigam esse roteiro para descobrirem qual a competência exata para o seu caso. Visto a apresentação, vamos às especificidades. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, artigo 124 , Constituição Federal de 1988. Competente para julgar crimes previstos no Código Penal Militar . Essa é a regra! Lembrando que, o Civil, também, poderá responder a este juízo, caso incorra em crimes militares que vá contra aos interesses das forças armadas. Fazendo apenas um adendo: essa exceção ocorrerá, apenas, na Justiça Militar da União, pois, a Militar Estadual julgará, tão somente, seus respectivos Militares. Exemplo: determinado Militar em incursão na favela (missão), sendo das forças armadas vier a cometer um homicídio. Este soldado responderá diante da Justiça Militar da União. Conforme supramencionado, o mesmo não ocorreria se um Militar Estadual, utilizando-me do mesmo exemplo fático. Neste caso, o Militar responderia perante o Tribunal do Júri. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, artigo 124 , parágrafo 4º da CF/88. Basicamente funcionará assim: julga, apenas, Militares Estaduais; não julgará civis! Adentraremos, agora, à temática da Justiça Eleitoral. Nos casos em que há concurso de crimes: Crime Eleitoral e Crime Comum: a competência para o processamento será da Justiça Eleitoral. Agora, havendo concurso entre Crime Eleitoral e Crime Doloso contra a vida: haverá uma cisão, ou seja, a Justiça Eleitoral julgará o crime eleitoral e o Tribunal do Júri julgará o crime contra a vida. Outra hipótese de cisão. Crime Militar em concurso com Crime Eleitoral: a Justiça Militar julgará o Crime Militar e a Justiça Eleitoral julgará o crime Eleitoral. Findamos a matéria das Justiças: Militar (Federal e Estadual) e Eleitoral. Neste ínterim, abordaremos a Justiça Comum em nosso estudo. Afinal, o que seria Justiça comum? As matérias que não possuírem como foro competente essas acima abordadas (Militar – Federal e Estadual -, bem como Eleitoral) serão de competência Federal ou Estadual comum, logo, trata-se de Competência residual. E nesse sentido, abaixo, trataremos oportunamente de cada um desses temas tidos como residuais. JUSTIÇA FEDERAL, ART. 109 , CF . Antes do tema em si, vamos às valiosas considerações: a) Crimes Políticos, Lei de Segurança Nacional : da decisão que julga a sentença de primeiro grau é o Recurso Ordinário Constitucional para o STF. Difere dos Crimes Comuns, pois, para estes, o recurso cabível seria Apelação para o TRF. b) Crimes contra bens, serviços e interesses (se for contravenção, não será federal, mas sim, Estadual – Súmula 38 do STJ): I- União; II- Autarquias Federais; (INSS) e III- Empresas Públicas Federais (Caixa Econômica, Correios (salvo se for franquia)). Súmula 556, STF – sendo Sociedade de Economia Mista a Competência é da Justiça Estadual Banco do Brasil, como exemplo. Agora, tratando-se de crime contra Sociedade de Economia Mista da União (CONEXÃO ou CONTINÊNCIA entre crime de Competência Federal com Crime de Competência Federal) a competência para julgamento, de ambos, será da Justiça Federal. Súmula 122 do STJ. Crime de uso de documento falso: lavemos em conta a qualidade do agente para quem foi apresentado tal documento, e não a qualidade do agente portador deste documento. Em outras palavras, se cicrano apresentar seu RG (documento Estadual) a um Policial Federal, o crime será de competência Federal; agora, se beltrano apresentar seu CPF (documento Federal) a um Policial Militar, o crime será de competência Estadual. Súmula 546, STJ. Vamos a mais exemplos. Crimes previstos em Tratados Internacionais, quando a execução se iniciou no Brasil e o resultado ocorreu, ou deveria ocorrer, no exterior; o contrário também é válido. Crimes Transnacionais: Tráfico Internacional de Drogas. Súmula 522, STF. Importante destacarmos que, se for tráfico interestadual, a competência será da Justiça Estadual. Pouco importa se a investigação foi realizada pela Polícia Federal ou Polícia Civil. Carta Maior em seu artigo 109 , parágrafo 5º : grave violação de Direitos Humanos. O Procurador Geral da República pode suscitar perante o STJ o chamado: Incidente de Deslocamento de Competência. Assim, encaminhará um crime de Competência Estadual à Justiça Federal. O STJ, apenas, julgará o Incidente. Requisitos para que o Superior Tribunal de Justiça admita o pedido do PGR: a) grave violação de Direitos Humanos; b) risco de responsabilização internacional do Brail; e c) comprovada ineficácia das autoridades locais. Isto é: caso Mariele, não foi transferido, mesmo tendo ocorrido o pedido, porque não demonstraram a ineficácia da investigação da Polícia Estadual. Crimes contra a organização do trabalho. Neste caso, precisa-se atingir a coletividade dos trabalhadores. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) Ex. Câmbio legal para o Crime de Evasão de Divisas. Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves. Temos como regra a competência da Justiça Federal, salvo se: 1- se o navio ou avião for militar; 2 – plataforma da Petrobras (é considerado navio). Lembrando: crimes praticados contra a Petrobras será de competência Estadual. Neste caso, da plataforma, será Federal porque é considerada navio. Crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Competência da justiça Federal. Crime de disputa sobre direitos indígenas. Observação: deve ser a coletividade indígena, sendo, apenas, individual, a competência será Estadual. Súmula 140 STJ. Tribunal do Júri Federal: julga os crimes dolosos contra a vida (quer ou assume o risco do resultado). Para corroborar com o Estudo, citamos uma forma de memorização de fácil absorção do conteúdo. HISA, o que seria HISA? São os crimes dolosos contra à vida: homicídio; infanticídio; induzimento, instigação e auxílio ao suicídio; e, por fim, o aborto. Tanto faz se consumados ou tentados. Insta mencionar: se o crime for doloso contra a vida em concurso com outro crime comum, o Júri julgara ambos os crimes. Outra observação deveras importante: crime doloso contra a vida em concurso com crime tutelado por FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: se o foro estiver previsto na Carta Cidadã, prevalecerá o foro por prerrogativa; agora, se o foro estiver previsto na Constituição Estadual ou na Lei, prevalecerá o JÚRI. Súmula Vinculante 45. Mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça: só haverá foro por prerrogativa de função nos seguintes moldes: a) crime praticado durante o mandato; e b) se o crime possui relação com o exercício da função, ainda que não esteja sumulado. Vamos aos exemplos. 1 – Deputado Federal matar sua esposa por ciúmes: competência do Tribunal do Júri; 2 – Deputado Federal matar um desafeto político: competência do Superior Tribunal Federal; e 3 – Deputado Estadual cometer homicídio. Neste caso, sempre será do Júri (Súmula Vinculante 45). Como faremos, na prática, para definirmos qual foro será o competente. Faremos aquilo que determina o artigo 69 do Código de Processo Penal , vejamos: a) verifique o local de consumação da infração. Obs: se o crime for tentado, veja pelo local que fora praticado o último ato de execução. Não sendo suficiente; b) verifique o domicílio ou residência do réu. Ainda não sendo possível; c) veja o juiz que primeiro tomou ciência dos fatos, chamado de juiz prevento. Obs: nas ações penais privadas, o querelante pode escolher o foro competente entre o local do crime ou residência/domicílio do réu. Crime com executado no Brasil e consumado no exterior: verifique o local no qual ocorreu o último ato de execução aqui em solo nacional para definir. Crime com execução no exterior e consumação no Brasil, competência da Justiça Federal do local no qual ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Sabemos quão importante é o presente estudo, bem como sabemos da dificuldade que temos (Advogados) para lidarmos com a matéria pela densidade e quantidade de informações. Não obstante a isso, fizemos uma apresentação suficiente para a elucidação do conteúdo. Espero que tenha sido válido. Até o próximo estudo!

Apresentaremos no presente estudo o remédio constitucional denominado Habeas Corpus. Como de praxe nessa página, reitero, não temos o menor intuito de publicar artigos esgotando o tema. Temos, como escopo, apresentar e esclarecer os principais pontos da matéria tratada. Neste caso, o Habeas Corpus. O que é Habeas Corpus? Trata-se de uma garantia constitucional que se obtém por intermédio de um processo. É um remédio que tutela, de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, conhecida, também, como o direito de ir e vir. Tal tutela dá o direito de não ser preso, a não ser em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tutela, igualmente, o direito de não ser preso por dívida, excetuando-se a dívida de alimentos. Mais ainda, concede o direito de não ser preso nos casos em que seja possível o arbitramento de fiança ou liberdade provisória; o direito de não ser extraditado, com exceção das hipóteses previstas na Constituição Federal ; há outros exemplos, mas, por ora, os apresentados acima, para o nosso estudo, já é o bastante para compreendermos o instituto. Válido dizer, desde já, que mesmo sendo encartado como recurso no Código de Processo Penal , o remédio aqui tratado tem a natureza de ação, com sua finalidade de amparar o direito de liberdade. Entendemos o que é, bem como sua natureza jurídica. Agora, pergunto: quem pode impetrá-lo? O Habeas Corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, até mesmo pelo próprio paciente beneficiário. Ainda, mesmo nos casos de o impetrante não possui capacidade postulatória. Sendo este agente (impetrante) analfabeto, outrem poderá assinar o pedido de ordem em seu benefício. Sendo o impetrante Advogado ou qualquer outra pessoa sem a capacidade de postular em juízo, não há necessidade alguma de o paciente lhe outorgar procuração. Percebam a dimensão desse writ, até mesmo o Ministério Público que tem como objetivo a pretensão punitiva, pode deduzir uma pretensão libertária. Temos diante disso uma prova fulcral da importância que o Estado deu à liberdade individual. A pessoa jurídica pode impetrá-lo, no entanto, não poderá impetrá-lo em benefício de uma pessoa jurídica porque esta não detém liberdade ambulatória, e é exclusivamente esta que o Habeas Corpus tutela. Atacando uma prisão ilegal, a qual deverá ser relaxada. Comunicação ao Juiz da prisão, encaminhando a este a cópia do auto de prisão flagrancial. Caso o Juiz que obteve a cópia dos autos fizer de ofício ou mediante petição da parte interessada estará cumprindo um mandamento constitucional. Agora, caso este Magistrado, recebendo a cópia do auto de prisão em flagrante proferir despacho manifestando no sentido de aguardar os autos do Inquérito do cartório após conclusos, a hipótese terá um desfecho diverso. Estando o agente preso em sua custódia e podendo eliminar o constrangimento da prisão ilegal com o relaxamento, e assim não o fez, este mesmo Juiz trouxe a si a figura de autoridade coatora e, nesse caso, qualquer pessoa poderá impetrar uma ordem de Habeas Corpus, não mais ao Juiz de primeiro grau, mas sim ao Tribunal. O constrangimento… O Constrangimento ilegal está positivado no corpo do artigo 648 do CPP : Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; VII – quando extinta a punibilidade. Uma vez verificada a constrição à liberdade ambulatória ou mesmo a simples ameaça a tal direito, poderá qualquer pessoa impetrar a ordem de H.C. perante o Juiz de Direito ou ao Tribunal de Justiça, a depende de agente coator. O recurso “ex oficio”. Nos casos em que o Juiz conceder a ordem, de ofício, ou sendo provocado, estará obrigado a submeter sua decisão ao exame do Tribunal, conforme aduz o artigo 574 , I , do Código de Processo Penal . Em outras palavras, no final de sua decisão ele recorrerá ao seu respectivo Tribunal (Justiça, Regional Federal ou Regional Eleitoral). Diversamente ocorreria na hipótese de o próprio Tribunal agir de ofício ou mediante provocação, pois, nesse caso, o artigo 574 , I , CPP não teria aplicabilidade, tendo em vista que sua previsão está restrita ao recurso do juízo “a quo” para o juízo “ad quem”. Leia a íntegra do artigo que tutela o acima aduzido: Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I – da sentença que conceder habeas corpus. Vamos tratar de competência recursal nos episódios em que os pedidos de Habeas Corpus são denegados. Havendo a denegação do HC impetrado ao Juízo de primeiro grau de jurisdição o paciente disporá de duas saídas: ou interpõe Recurso em Sentido Estrito fundamentado pelo artigo 581, X, ou impetra outro Remédio Constitucional endereçado ao Tribunal competente. O pedido sendo denagado por Juiz Federal, caberá ao paciente impetrar outro HC ao Tribunal Regional Federal correspondente de sua região (terceira região, por exemplo, abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul). Extremamente válido mencionar outra hipótese, qual seja: em caso de o HC ou o Recurso em Sentido Estrito for denegado pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, mesmo que tenha sido com pedido liminar, o impetrante, desde que detenha capacidade postulatória, por óbvio, poderá interpor Recurso Ordinário Constitucional já com as Razões no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação do Acórdão perante o Presidente do Tribunal de Justiça que denegou a ordem, o qual será dirigido, em oportuno, ao Superior Tribunal de Justiça. Existem alguns casos especiais para utilizarmos do presente remédio, a saber: se o Juiz recebe a denúncia ou a queixa-crime cujo fato descrito não constitua crime; mesmo que o fato seja considerado como crime, se os autos do inquérito policial ou as peças de informação que instruam a denúncia ou queixa não demonstrarem algum elemento inequívoco que forme a convicção quanto à existência ou sua autoria, caberá HC para trancar a ação penal, pelo nítido exemplo de justa causa; se o Juiz decretar prisão preventiva sem fundamentá-la, caberá HC, também, por falta de justa causa; sendo o processo manifestamente nulo, já transitado em julgado, e, por exemplo, não tenha deixado vestígios e não houve o exame de corpo de delito da forma direta ou indireta, caberá, igualmente, Habeas Corpus; dentre outras hipóteses. Já ouviram a expressão Salvo-conduto? Saibam o que é. Na hipótese de um Habeas Corpus preventivo for concedido, será expedido um salvo-conduto dará ao paciente o direito de que sua condução esteja salva. Tal documento será emitida pela autoridade que conheceu do HC preventivo, com o escopo de lhe assegurar o livre direito de ir e vir. E, nestes moldes, impedirá a prisão pelo mesmo motivo que ensejou o pedido. O pedido de HC tem a capacidade de trancar o processo? A principal finalidade desse Remédio é a de cessar o constrangimento ilegal ou a ameaça de um ilegal constrangimento. Sendo liberatório, o paciente será colocado em liberdade; ou, se estiver em liberdade, cessará o constrangimento. Agora, se for preventivo, é por seu intermédio que obstamos o constrangimento, impedindo-o que venha a efetivar, por esse motivo, que pedimos o salvo-conduto. Assim, o paciente não poderá ser preso pelo fato que deu origem ao remédio. Existem, como trataremos agora, outros motivos que ensejam no pedido de habeas corpus. O trancamento do inquérito policial através do HC só poderá ocorrer como medida excepcional, quando se nota a ausência nítida de crime. Existindo suspeita de crime, não se tem como impedir a continuidade do das investigações. O HC não deve ser a via apropriada para o trancamento do inquérito policial no qual se cogita a existência ou não da justa causa. Não deve o poder judiciário invadir, em princípio, a esfera da autoridade policial. Insta mencionar, nesse ínterim, que havendo a concessão do HC e, na mesma oportunidade constatada a má-fé ou, ainda, o abuso de autoridade ensejando o constrangimento ilegal, além de ser condenado a pagar as custas ensejarão na manifestação do Ministério Público para as providências cabíveis ao caso. Para findarmos mais um estudo, tratarei brevemente de um tema remanescente, qual seja: se o pedido de Habeas Corpus poderá ser reiterado. E então, pode o pedido de reiteração? Sim, poderá. Desde que preencha alguns requisitos necessários. O pedido será reiterado, em qualquer grau de jurisdição, pela mesma pessoa que o impetrou ou por pessoa diversa. Desde que o pedido de reiteração seja realizado com novos documentos e novos argumentos. Caso seja impetrado com os mesmo argumentos e documentos, não será conhecido. No entanto, demonstrando novas fundamentações ou elementos probatórios, nada obsta que o novo pedido.

Trataremos neste estudo sobre o concurso de pessoas e suas vertentes. Não temos o intuito de exaurir o tema, mas a base será bem elucidada para uma sólida compreensão acerca do tema que, ao nosso olhar, é de suma importância na esfera criminal. Na maioria dos casos criminosos, o delito é praticado por, apenas, um único indivíduo, isto é, o autor do crime. Ocorre que, por vezes, o autor não está só, ou seja, há diversos autores que estão agindo conjuntamente e essa ação é devidamente dividida entre os agentes com o intuito da concretização do delito. Ocorre ainda que determinados indivíduos são alcançados pela lei penal, não pela execução do verbo nuclear do tipo penal (ex: matar alguém), mas sim pelo auxílio, seja objetivo ou subjetivo, para a ação criminosa de pessoa diversa. A tais pessoas são atribuídos o nome de partícipes. Autoria, coautoria e a participação não possuem distinção formal perante seus conceitos, entretanto, diante da teoria da equivalência das condições, é admitida a existência de graus diversos de participação, e, além disso, acomodando-se aos princípios constitucionais da culpabilidade e da individualização da pena no concurso de pessoas. O Código Penal adota a teoria monista, a qual positiva que que os participantes de uma infração penal incorrem nas sanções de um único e mesmo crime, salvo nas exceções da concepção dualista, mitigada, que diversifica a atuação dos autores e partícipes. Tal distinção permite uma dosimetria no sistema trifásico do cálculo de pena conforme a efetiva participação e eficácia causal da conduta de cada membro participante, na medida de sua culpabilidade devidamente individualizada. Elementos do concurso de pessoas. O concurso de crimes aperfeiçoa-se com os requisitos preenchidos do conceito de alguns dados essenciais. A seguir, especificaremos cada um deles. Pluralidade de Condutas. A palavra “concurso” inclui a participação em determinada ação. Tal palavra é o primeiro substrato fundamental para a existência do concurso de pessoas: a pluralidade de condutas. Relevância causal de cada conduta. Fundamental, também, que as condutas praticadas pelos agentes concorrentes tenham uma relevância causal em relação ao fato criminoso praticado conjuntamente. Caso a conduta praticada por um deles não apresentar nexo de causalidade que a vincule à pratica do crime, a conduta não será irrelevante e o concurso de pessoas não concretizará perante ao referido agente. Exemplificando a irrelevância causal, a conduta de quem querendo participar de um homicídio empresta um revolver .38 àquele que executará o verbo nuclear do tipo “matar alguém”, mas este não utiliza o revólver nem mesmo se sente motivado com o empréstimo do armamento, assim não cometendo o crime. Neste sentido, não pode ser empregado àquele que emprestou o armamento pela razão de que o seu comportamento foi irrelevante, ou seja, não houve eficácia causal. Vínculo subjetivo ligando cada concorrente às diversas condutas. Não é suficiente, apenas, a pluralidade de agentes e relevância causal da conduta empreendida, resumidamente: é importante que o vínculo se afirme com caráter subjetivo ou psicológico entre os concorrentes, em razão de que cada concorrente tem consciência e vontade para agir para a ação criminosa de outrem. Não é requisito o prévio ajuste entre os agentes, apenas a decisão consciente e voluntária de cooperação ante o crime em si. Identidade de infração para todos os concorrentes. O último elemento que configura o concurso de pessoas refere-se à identidade da infração penal. Significa dizer que todos os agentes concorrentes, cujas condutas têm relevância causal e estão relacionadas de forma subjetiva, deverá objetivar o cometimento de uma infração penal. É, indubitavelmente, esse o objetivo que interliga a conduta de cada agente concorrente. Autoria e tipos de autoria. Autor é o material do fato tipificado no Código Penal como crime. Contudo, não é o suficiente para que possamos delimitar o conceito, com o fito de distinguir autoria de participação, que é, ao nosso olhar, indispensável à justiça criminal num todo. Conforme a teoria subjetiva causal, o conceito de autor tem um caráter extensivo: é autor todo aquele que gerou uma condição para o resultado típico. Obviamente que, no caso em tela, a colaboração, mesmo sendo irrelevante, até mesmo atípica, seria abarcada pelo conceito, de forma que os autores seriam todos os que, de alguma forma, tivessem interferido na produção do resultado. Nesse caso, além de estender quase que infinitamente a autoria, empobreceria, como consequência, a condição de participação. Agora, indo de encontro a teoria subjetiva, temos de citar a teoria formal-objetiva que propõe um conceito restrito no que tange a autoria. Autor é aquele que realiza uma conduta criminosa, ainda que em parte. O participe, por sua vez, conforme essa teoria (formal 0bjetiva), é aquele que o ato extra-tipo e que seriam impunes no caso de não haver uma norma de extensão que o alcançasse, assim, acrescentando o alcance da punibilidade. Diante da visão dessa teoria, não vislumbramos obscuridades entre autoria e participação, isto é, ambos são completamente dissonantes. Contudo, citarei uma situação hipotética para exemplificar que, essa teoria, em algumas ocasiões, não nos traz uma resposta satisfatória, a saber: imaginemos que um determinado indivíduo, maior e plenamente imputável, se servisse de um menor inimputável para praticar um fato tido como crime. Seria razoável qualificar esse agente – mandante, maior e imputável – como participe? Acreditamos que não! Tendo em vista que o domínio dos fatos sempre esteve com aquele maior, ou seja, ele é, em nossa opinião, o autêntico autor. As teorias acima expostas não definiram suficientemente a definição de autoria, nem para a fixação uma apropriada linha que, realente distinga autoria de participação. Uma equivocou-se por enfatizar a matéria, de forma subjetiva; já, a outra, não sou, adequadamente, considerar o caráter objetivo da matéria. O Ponto que as une, a nosso ver e de forma majoritária pela Doutrina é a Teoria do Domínio do Fato. A Teoria do Domínio do Fato parte da premissa restrita de autor, logo, considera que a autoria deve estar necessariamente ligada ao tipo penal. Todavia, tal vínculo não é suficiente para fundamentá-la. Não é suficiente a realização de um fato típico no sentido da palavra é, pois, necessária, uma certa subjetividade, ou seja, que o fato tido como crime ocorra com a vontade que está à frente dos acontecimentos. Nessa esteira, portanto, autor é aquele que realmente tem o poder para produzir o crime. Sintetizando o conceito: quem domina o fato, quem executa com suas próprias mãos, ou, de qualquer modo, dele dependa decisivamente é tido como autor. Lembrando, como há pouco afirmado, do teor subjetivo da ação (vontade). Em breves palavras, trataremos neste momento de algumas particularidades e distinções de autoria, vejamos abaixo. Autor Executor. Autor executor é aquele que materialmente realiza, totalmente ou mesmo em parte, o verbo nuclear do tipo descrito no tipo penal. Autor Mediato. Autor mediato é aquele que, para o cometimento da ação delituosa tida como crime, se serve como instrumento de uma interposta pessoa da qual abusa, com o intuito de que tal pessoa pratique a ação. Isto posto, autor mediato é aquele que, consciente e deliberadamente, faz atuar por ele o terceiro cuja conduta não reúne os requisitos necessários para ser punível (o inimputável). Autor Intelectual. Autor intelectual é quem, sem executar o crime diretamente (não pratica o verbo do tipo), possui o domínio do fato, tendo em vista sua elaboração e planejamento acerca de toda ação podendo, consequentemente, decidir sobre a interrupção, modificação ou consumação da ação criminosa. Coautoria. Coautoria é a realização, simultânea, de um fato tido como crime por várias pessoas. Essas colaboram para a obtenção do resultado de forma consciente e voluntária. Cada coautor é um autor e, à vista disso, deve apresentar as características próprias de autoria. Significa dizer que coautor é aquele autor que possui plenamente o domínio do cometimento do fato típico associadamente com outro agente (outro autor). Cada personagem que atuou como autor deve apresentar características próprias desse modelo. Significa dizer que o coautor é aquele autor que tem o domínio da realização do fato em conjunto com demais autores e, nesse caso, o resultado total da infração deverá ser debitado para cada agente coautor. Tratamos acima de forma mais detalhada o significado de autor e suas variantes, incluindo, pela grande importância, a figura dos coautores. Agora, alcançamos o momento de tratarmos sobre a figura da participação, visto que findamos o conceito de autor. Participação e Tipos de Participação. Participar nada mais é que aquele agente que não realiza, diretamente, tal como o autor o faz, o verbo nuclear do tipo (ex.: matar alguém), porém, contribui indiretamente para a ação que está sob o domínio de terceira pessoa. A participação pressupõe a existência de um fato alheio (ação do autor ou de seus coautores para o cometimento do crime) mas que, para tanto, o participante tenha contribuído. Obviamente que, essa figura (partícipe), contrariamente ao autor e ao coautor, tem sua ação de forma participativa, isto é, atua na ação delituosa sem executar atos que se amoldam ao tipo penal, nem mesmo tem, em suas mãos, o comando da ação criminosa. Ele participa, evidentemente, mas não possui condição alguma de decisão sobre o resultado final do crime. Há inúmeras condutas de participação e todas elas acomodam-se, pois, em duas categorias perfeitamente delimitada: a participação material e a participação moral. A participação material, conhecida também como cumplicidade, ocorre quando o participe interfere materialmente na dinâmica delitiva, seja feita tal interferência, por ação ou omissão. Não podemos, válido destacar, confundir a conivência que é expressamente utilizada para denominar o comportamento omissivo (não fazer) de quem não tem o dever de agir para impedir o resultado. A participação moral, por sua vez, ocorre quando o partícipe contribui psicologicamente para a conformação da vontade delitiva do autor. Agora, para corroborar com a figura do partícipe, faremos algumas distinções no modo de sua conduta. Ajuste. O ajuste é a combinação que faz entre si várias pessoas no sentido de cometimento de um crime, pressupondo em todos uma resolução determinada. Determinação e Instigação. A determinação e a instigação são formas de participação moral. No primeiro caso – determinação – o agente faz nascer em pessoa diversa a ideia e a decisão da prática delituosa; já, no segundo – instigação – o partícipe reforça a ideia e a decisão preexistentes. Na determinação, conhecida, também, como induzimento, o partícipe não possui o domínio do fato, mas influencia o autor a executar um fato criminoso. Agora, na instigação, temos uma forma de participação de menor relevância, tendo em vista que o participe não motiva/incentiva o cometimento do crime, tão somente corrobora com a motivação pretérita. Auxílio. Auxílio é a forma de participação material, que corresponde à antiga cumplicidade. Pode ocorrer na preparação ou execução do delito. Auxilia na preparação aquele que fornece a arma, por exemplo, ou pode ser, também, aquele que fornece informações úteis à realização do crime. Auxilia na execução quem permanece de observador para que possa avisar o autor em caso de aproximação de pessoa diversa que ocasione a tentativa do crime. Podendo ser, também, aquele que segura a vítima para que o agente o mate, ainda, podendo ser, como exemplo, aquele que leva o agente em seu próprio veículo ao local do furto, etc. Aplicação da Pena no Concurso. O legislador de 1984, ao legislar sobre a punibilidade no concurso de agentes, não rompeu com a teoria unitária pela qual todos os que concorrem para a prática do fato criminoso incidem na pena ele cominada. Autor, coautor e participe não são isolados, sendo, pois, apenados conforme suas ações. Todos eles poderão ser penalizados nas mesmas penas previstas, em abstrato, para o tipo penal praticado. Relevante foi a alteração positivada no artigo 29 do Código Penal , a qual, teve como acréscimo, o seguinte: “na medida de sua culpabilidade”. Significa dizer, a priori, temos um respeito ao princípio do nullum crimen sine culpa, no que tange ao concurso de pessoas. A posteriori, foi reconhecido que a sanção penal, em concreto, deverá ter sua aplicação a cada agente que tenha concorrido para a consumação do crime conforme seu grau de reprovabilidade na conduta. Cada agente com sua pena, individualizada. Não significa dizer que temos, com isso, uma exceção diante dos parágrafos 1º e 2º do artigo 29 , CP , que possa ser superadas, deste modo, os limites penais estabelecidos para o tipo. Todavia, a lei determina que o Juiz avalie não apenas a contribuição que cada concorrente prestou para o cometimento da infração, mas, também, a culpabilidade – seja de maior ou menor reprovabilidade – de cada agente, de forma individualizada; assim, evitará injustiças na aplicação das penas. Participação de Menor Importância. Trata-se de uma causa redutora de pena a qual permite, no processo dosimétrico de aplicação da pena, que fique abaixo do mínimo legal cominado para o tipo penal cometido. Não há de se falar em faculdade, mas sim de uma causa de diminuição, obrigatória, de pena, desde que esteja evidente a pífia contribuição ou, também, a mínima participação para a realização do crime. No entanto, não poderá ir além para que não desconsidere a ideia do legislador de determinar a não incidência da causa de diminuição equiparando ao plano de culpabilidade do partícipe, o qual teve uma mínima contribuição, aos demais agentes. Mesmo diante de todas as hipóteses acima elencadas, para que o magistrado assim o faça, ou seja, para que reduza legalmente, deverá fundamentar. Caso contrário, a redução deverá recair em um percentual mais abrangente. O critério utilizado para auferir a maior ou menor redução está condicionada à maior ou menor culpabilidade do partícipe, verificado no caso concreto da ação criminosa. Entraremos, nessa etapa, na última matéria desse nosso estudo: Participação de Crime Menos Grave. O teor desse título está contido no parágrafo segundo do artigo 29 , Código Penal , da seguinte forma: “se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe -á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”. Em palavras mais fáceis: o partícipe será punido pelo fato menos grave, ou melhor, pelo crime que praticou e que pretendia praticar respondendo, apenas, pelo plus resultante da ação criminosa dos demais agentes concorrentes, somente se, o caso o resultado mais gravoso lhe era possível prever. Assim o sendo, seu processo dosimétrico deverá ser aumentado até metade, tendo como termo inicial a pena do crime mais menos grave. Resta-nos, derradeiramente, salientar que o Código Penal considera a previsibilidade do resultado mais grave, e não (frisa-se) da hipótese de previsão desse resultado e de sua aceitação como possível. Nesse caso, havendo previsão do agente participante, teria de responder inteiramente pelo resultado mais grave, por ter atuado com dolo eventual, o famoso: dane-se.

Mulheres vítimas de violência doméstica, o que fazer em situação de agressão? Saiba que existem diversos serviços que a mulher pode procurar, por exemplo: centros de atendimento à mulher, serviços de saúde e assistência social, abrigos, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Polícia, Polícia Militar, advogados, etc… Caso você esteja sofrendo violência, primeiramente ligue à Polícia Militar, tendo em vista a possibilidade da prisão preventiva do agressor que, infelizmente, não é certeza, pois dependerá da situação variando caso a caso. Feita à ligação, peça que seja levada à Delegacia de Defesa da Mulher ou qualquer outra que esteja próxima para que seja realizado o registro da notícia crime (boletim de ocorrência).Já em sede de Delegacia Policial, faça de forma extremamente detalhada a narrativa da agressão, ou das agressões no caso de não ter sido a primeira porque ajudará no que tange ao pedido de medida protetiva. Apresente, caso possua, provas da violência sofrida, qualquer umas, desde fotos, laudos médicos, testemunhas (válido mencionar que a testemunha não precisa, necessariamente, ter presenciado as agressões desde que tenha conhecimento dos fatos), conversas em redes sociais, mensagens recebidas no telefone, etc. A depender do crime, por exemplo o crime de ameaça, precisará de uma representação que, resumidamente, trata-se de uma autorização da vítima para que seja dado início a investigação e ao processo crime com o prazo de validade (decadencial) de seis meses, tendo como início de contagem a data da prática da violência. Como dito acima, a representação dependerá do crime, ou seja, há crimes em que é desnecessária tal representação. Nesses casos, basta a comunicação do crime em sede policial (Delegacia de Polícia) para que o inquérito policial tenha início. Exemplo: crime de lesão corporal no âmbito de doméstica (artigo 129, parágrafo 9º), aqui, após o registro, a Polícia não desistirá das investigações. E mais, mesmo que estejamos diante de crimes que dependam da representação do ofendido, a desistência estará condicionada a falta do oferecimento da denúncia pelo Promotor de Justiça, isto é, caso haja o oferecimento da inicial acusatória estará prejudicada a desistência da representação. Contudo, ainda não havendo a oferta da inicial acusatória, a vítima será intimada para uma audiência específica para afirmar perante o Magistrado que, realmente, deseja desistir. Falamos superficialmente sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha . Mas, afinal, o que são elas? Tratam-se de medidas que protegem a mulher em uma situação de risco, por exemplo: afastamento do agressor do lar comum; proibição do agressor de aproximar-se da mulher, de seus familiares e de testemunhas; restrição do porte de arma; suspensão de visitas aos filhos menores; obrigação de pagar pensão alimentícia em caráter provisório. Existe expressamente um rol das medidas protetivas de urgência no capítulo II da lei 11.340 /2006 (Maria da Penha). Os pedidos acima elencados além de ser feito na Delegacia de Polícia, poderá ser feito por intermédio do Promotor de Justiça ou advogado, nem mesmo necessita do boletim de ocorrência. Extremamente valioso o esclarecimento de que tais medidas não suprem a insegurança da vítima. Ocorre, muitas vezes, de o agressor descumprir as medidas impostas. Caso ocorra o descumprimento, o agente infrator incorre no crime com previsão no artigo 24-A da Lei 11.340 /06. Para tanto, a vítima poderá informar o descumprimento na Delegacia, no MP ou ao advogado. Isso ocorre porque, nesses casos, poderá ser solicitado a prisão preventiva do agente agressor. Por fim, para a elucidação desse triste caso, o qual, infelizmente, é constante no dia a dia, explicarei o que é, de fato, violência doméstica. Saibam, não é, apenas, violência física. Vai muito além das agressões corporais. Segundo a Lei Maria da Penha (11.340/2006), essa violência é definida como qualquer ação ou omissão que cause à mulher: morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou material. A Lei ainda prevê que essa violência pode ocorrer no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, ainda que essa relação não mais exista. A vítima dessa violência será a pessoa do gênero mulher (ou aquela que se vê e age como tal, a saber: travestis e transexuais), independentemente de sua idade, mas quem a pratica poderá ser um homem ou uma mulher, podendo ser reconhecida a violência, inclusive, nas relações homoafetivas entre mulheres. Como dito acima, tais violências vão muito além do físico. A violência doméstica e familiar se dão da seguinte forma:, como a mais conhecida, física (empurrões, pontapés, tapas, socos, etc.); psicológica (ameaças, perseguições, chantagens, humilhações, proibições de sair e trabalhar, etc.); sexual (manter relação sexual forçada, ser obrigada a se prostituir, ser proibida de tomar pílulas ou ser forçada a não usar preservativo, etc.); patrimonial (subtrair, destruir, se apropriar ou queimar bens e documentos pessoais, etc.) e, por último, moral (xingar, acusar de traição, espalhar mentiras a respeito da mulher, etc.). O presente texto acerca dessa tragédia que assola diversas famílias tem como intuito, acima de tudo, o amparo com informações técnicas e eficazes no combate às agressões. Não tive como escopo o estudo da matéria, apesar de apresentá-la, nessa página, de forma singela. O intuito, reitero, foi o auxílio ao combate, mesmo que de forma ínfima.

Desistência Voluntária. Iniciaremos este estudo com o conteúdo da desistência voluntária. Neste caso, embora o agente tenha iniciado a execução do ato criminoso, não o leva à consumação; mesmo tendo todas as chances de concluí-lo. Em suma: desiste da realização de maneira propositada, por ter mudado de ideia e não querer, mais, a realização do crime. Para que ocorra este instituto, basta que o agente desista de forma espontânea. Ela ocorre no exato momento em que em que o agente, voluntariamente desiste de praticar o ato sem que esteja sofrendo qualquer tipo de coação – moral ou física -, mesmo que tenha partido de pessoa diversa a ideia inicial ou, até mesmo, que a ideia tenha partido da própria vítima. A desistência voluntária difere-se da tentativa porque este, para que ocorra, necessita que o crime não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente, artigo 14 do Código Penal ; e, aquele, basta que a desistência seja voluntária, conforme positiva o artigo 15, primeira parte, do mesmo códex. Cito, para exemplificar o supracitado, o caso hipotético de um elemento denominado X que nutria o animus necandi (desejo de matar) ante seu desafeto Y. Em determinado dia X vai ao encontro de Y com um revolver carregado com seis munições intactas e inicia a execução efetuando um disparo no peito de seu desafeto que vai ao chão, no entanto, com a queda da vítima, X se arrepende de sua injusta agressão que o faz, voluntariamente, cessar seu intento socorrendo prontamente a vítima ao hospital. Com sua ação voluntária e seu socorro a vítima não tem a vida ceifada nem mesmo ficará com sequelas pela agressão sofrida. Com esse resultado, o agressor responderá, tão somente, pelos atos praticados. Trata-se de um instituto com pouco conteúdo a ser estuda, assim, o exposto acima nos dá uma base para compreensão da primeira parte do artigo 14 do Código Penal . Agora, adentraremos à segunda parte deste artigo: arrependimento eficaz. Arrependimento Eficaz. No arrependimento eficaz o agente, após ter esgotado todos os meios de que dispunha – sejam suficientes e necessários -, arrepende-se e evita que o resulta ocorra, isto é, pratica um novo ato com o intuito de que o resultado anteriormente pretendido (a lesão) ocorra. Extremamente válido apontar que, neste dispositivo, assim como no anterior, é necessário que a ação seja de forma voluntária. Contudo, não basta, apenas, da ação voluntária por si só; necessita-se, outrossim, que a ação obtenha êxito, isso é indispensável! Caso o agente agressor não consiga impedir o resultado, por mais que tenha se arrependido em produzi-lo, sua responsabilidade penal será pelo crime consumado. Como de praxe, para uma melhor compreensão da matéria, vamos ao exemplo: imagine um que o agente X nutre um imenso desafeto pelo agente Y. Eis que em uma determinada data X arma uma emboscada e desfere 10 facadas, todas, no abdome da vítima. Concordam que a ação é executada até o final, quase um exaurimento? Pois bem… Apensar de todos os golpes desferidos em desfavor de Y, o agressor, repentina e voluntariamente, socorre a vítima levando-a ao pronto socorro e, em consequência de seu socorro, o agente Y (vítima) sobrevive sem nenhuma complicação, nem mesmo sequelas. Estamos diante de uma nítida desistência voluntária! Ante à importância de elucidar o que a doutrina chama de “tentativa qualificada”, insta mencionar que tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o agente, apenas, responderá pelos atos já praticados que, por si só, constituem crime. Ambos os institutos são acobertados pela doutrina por um instituto denominado como “ponte de ouro”, que é uma espécie de prêmio que se dá, em direito penal, por não consumar a lesão ao bem jurídico. Findos os comentários acerca do artigo 15 do Código penal , aproveitarei o ensejo e tecerei alguns comentários no que tange ao instituto do arrependimento eficaz, os quais considero extremamente importantes e o assunto se assemelha ao anterior. Arrependimento Posterior. Previsto no artigo 16 do Código Penal , é uma causa obrigatória de diminuição de penal, bem como de colaboração espontânea (delação premiada), aquela com previsão no artigo 4º da lei de número 12.850 /2013 ( Lei de Crime Organizado ). A consequência jurídica da causa redutora de pena: o arrependimento posterior provocará, se reconhecido no processo crime, uma redução obrigatória da pena. Não obstante, essa redução de pena não tem referências com o artigo 59 , CP , para que não incorra em bis in idem, e sim nos critérios quanto ao ressarcimento do bem jurídico violado que, em via de regra, se opera antes mesmo do início da ação penal e por ato voluntário do agente. Seus requisitos são objetivos e subjetivos. Nos objetivos: os crimes cometidos não podem ter como emprego a violência ou a grave ameaça; deverá ocorrer a reparação do dano, salvo raríssimas exceções, ou a restituição da coisa. Já os subjetivos é a voluntariedade do agente.

Àqueles que carecem de informações básicas, abordarei ao longo deste texto e de forma sucinta um apanhado de direitos e deveres das pessoas presas. Primeiramente no que tange à defesa dos presos: o Advogado tem a capacidade postulatória de defesa do Sentenciado na fase de Execução penal. Neste ínterim, o causídico pode tanto atuar com requisição de pedidos de benefícios, tais como: progressão de regime, livramento condicional, comutação, induto, etc. Pode o advogado, também, defender o preso em caso de faltas durante o cumprimento de pena. Existem três tipos de faltas, ou melhor, três níveis, quais sejam: leves e médias (contidas no regimento interno padrão dos presídios) e as graves (que estão positivadas na Lei de Execução Penal – 7.210/1984). O preso, caso cometa alguma dessas infrações impostas, poderá ser responsabilizado de caráter punitivo. Logo, podemos perceber que a punição somente será válida em âmbito legal – tendo em vista que a realidade é bem diversa daquilo que a teoria nos ensina – se assim a Lei permitir por intermédio de seu dispositivo. A falta disciplinar é aplicada àquele que cometer algum ato descrito como falta, tanto na LEP (Lei de Execução) quanto no RIP (Regimento Interno Padrão). A falta deverá estar descrita anterior ao fato, caso contrário, não podemos chamar a ação como falta. Sua divisão se dá da seguinte forma: na Lei de Execução Penal estão dispostas o que se denomina como falta grave. Já no Regimento Interno Padrão estão elencadas, por seu turno, as médias e as leves. Existe um trâmite para a sua averiguação, esse procedimento é realizado por meio de uma Sindicância ou um Processo Administrativo. A sindicância tem início pela comunicação realizada pelo Servidor Público (geralmente o Agente Penitenciário) do ato tido como falta. Assim, o autor do evento bem como as testemunhas deverão ser ouvidos. Obviamente que, antes do diretor emitir seu entendimento dizendo se é ou não falta grave e impor a sanção pertinente, o Advogado deverá apresentar sua defesa em favor de seu cliente. Para ser mais claro, a pessoa presa tem o direito de ser representado por um Advogado para que realize sua defesa daquilo que esteja sendo imputado em seu desfavor, ou seja, o preso tem o pleno direito de ser defendido por um Advogado daquilo que está sendo imputado em seu desfavor. Conclusos a etapa de defesa, a sindicância será encaminhada ao Juízo de Execução Criminal para que o Juiz da Vara possa decidir se o procedimento administrativo está dentro dos parâmetros legais e, somente após, formará sua convicção acerca do ocorrido. O Juiz competente poderá decidir contrariamente em respeito ao princípio do livre convencimento. Logo, se o Diretor pugnar pela sanção de falta grave, mas o Juiz entender de forma contrária, o magistrado poderá desclassificar o ato para uma falta média ou, até mesmo, leve. Consequências dessa desclassificação: não processo de execução não terá nenhuma perda, como por exemplo: o preso não terá a perda de 1/3 dos dias já remidos. Agora, entendendo o Juiz de forma inequívoca de que se trata de falta grave, mandará anotar tal falta, poderá remover parcela dos dias remidos e, de igual forma, poderá indeferir o pedido de benefício tendo em vista que a pessoa presa terá em seu desfavor o mal comportamento que perdurará pelo prazo de seis meses a contar da data do início da falta. Falamos muito em faltas, principalmente das graves. A final, quais são as faltas graves? As faltas graves estão aduzidas na Lei 7.210 /84 – Lei de Execução Penal em seu artigo 50 , a saber: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II – fugir; III – possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV – provocar acidente de trabalho; V – descumprir, no regime aberto, as condições impostas; VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei; e VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Art. 39. Constituem deveres do condenado: II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; e V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que: I – descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; II – retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta; e III – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: § 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. § 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. As sanções (punições) que serão aplicadas em desfavor daqueles que as infringirem serão as seguintes: eles deverão obedecer aos critérios da individualização da pena e jamais poderão colocar em risco a saúde do apenado. Exemplificando: se apenas um indivíduo da cela for surpreendido na posse de um aparelho celular, somente ela poderá ser submetida a uma punição. Desde que, conforme o aqui exposto, obedecer aos critérios positivados em Lei. Isto posto, não podem sofrem quaisquer tipos punitivos aqueles que coabitam na mesma unidade (cela). Vejamos o teor do artigo 53 da LEP : Art. 53. Constituem sanções disciplinares: I – advertência verbal; II – repreensão; III – suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); IV – isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. V – inclusão no regime disciplinar diferenciado. Art. 41 – Constituem direitos do preso: V – proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XV – contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Trinta dias é máximo de tempo em que o isolamento, também conhecido como castigo, poderá durar. Há, outrossim, o denominado isolamento preventivo que, diferentemente do ordinário, poderá perdurar até dez dias. E, nesse mesmo sentido, o preso deverá retornar ao convívio no caso de a sindicância não ser finalizada no prazo aqui mencionado. No entanto, após a conclusão da sindicância, sobrevier a conclusão de que o apenado realmente cometeu a falta grave a ele imputada e impuser trinta dias como punição, ele terá, apenas, mais vinte dias para cumprir. Cito, agora, outra sanção possível destinada ao sentenciado que comete falta grave: a inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado, conhecido também como RDD. Tem como prazo limite trezentos e sessenta dias, variando desde um até seu máximo de trezentos e sessenta dias. Essa sanção é cabível, por exemplo, a quem incorrer em crime doloso gerando tumulto grave ou rebelião no presídio, como, também, àquele tiver participação em organização criminosa (obviamente que deverá, obrigatoriamente, ter elemento probatório na sindicância). Por falar em sanções, existem hipóteses de punições as quais jamais poderão ser empregadas aos presos, tais como: risco a vida; risco a saúde física e mental; cela escura, jamais; RDD sem prévia autorização judiciária; punição coletiva, em respeito à individualização da pena; punição sem elementos probatórios; permanência no castigo por mais de trinta dias; e, principalmente, sofrer maus tratos ou tortura. Caso haja alguma violação desses direitos mencionados acima, a presença de um Advogado é fundamental para que ele, por intermédio de sua capacidade postulatória, possa ingressar contra o Estado Ação de Indenização. Pois, tendo a pessoa em sua custódia, é de sua inteira obrigação preservar a saúde do preso. Existe, para complementar esse rol de direitos destinados ao preso, o auxílio reclusão. Trata-se de um benefício da Previdência Social para a proteção dos dependentes carentes do sentenciado que trabalhava e arcava com o INSS. Esse auxílio poderá ser recebido durante todo o cumprimento da pena privativa de liberdade. Para conseguir obtê-lo é fácil, basta ir à agência da Previdência Social que todas as informações necessárias, bem como os documentos exigidos serão fornecidas pelos profissionais lá presentes. Em tempo, e de forma conclusiva, tecerei um pequeno comentário acerca dos direitos assegurados às mulheres. Tão importante quanto o preso do sexo masculino é a mulher presa que, por sua vez, tem os mesmos direitos assegurados ao homem. Contudo, existem alguns direitos destinados à mulher no que diz respeito aos seus filhos. É possível que permaneça com suas crianças durante o período de amamentação, minimamente por cento e vinte dias. Não tive o intuito de exaurir o tema com o texto, mas fiz, na medida do possível, um apanhado daquilo que entendo por ser de maior importância nesse momento tão difícil que é o encarceramento.

